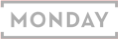Patrícia Santos Pedrosa é arquiteta, professora da Universidade da Beira Interior, investigadora do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género (CIEG) — onde neste momento coordena o projeto “[email protected] |Mulheres Arquitetas em Portugal (1982-1986): Construção da visibilidade” —, presidente e co-fundadora da associação Mulheres na Arquitetura (MA) e uma ativa promotora do debate público sobre a presença feminina nesta disciplina e sobre os direitos das mulheres. Até porque, afirma, “as arquitetas ainda não são tão chamadas a falar” como os seus colegas masculinos e há muito para fazer no que respeita às questões de género — “ainda vejo estereótipos muito enraizados nas estudantes universitárias com quem contacto”, diz-nos.
Licenciada em arquitetura pela Universidade Técnica de Lisboa, Patrícia Pedrosa fez o mestrado em História da Arte na Universidade Nova e doutorou-se em Projetos Arquitetónicos pela Universidade Politécnica da Catalunha. Em 2017, co-criou a MA com outras 7 mulheres, associação que também integra a Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres e tem por objetivo promover “a reflexão e a ação no âmbito da equidade de género”, no que respeita ao exercício da arquitetura, mas também quanto à forma como as cidades e o território são projetados para servir as necessidades de quem nelas vive. “Somos Mulheres na Arquitetura, e não Mulheres Arquitetas, porque quisémos ter antropólogas, sociólogas, arquitetas paisagistas, urbanistas, designers, curadoras. Há muitas mulheres com formação em arquitetura, mas que se dedicam a variadas áreas. Era muito importante alertarmos para o facto de não sermos tão chamadas para desenhar e refletir sobre a cidade, enquanto profissionais, mas também não o fazermos enquanto cidadãs utilizadoras do espaço público.”
Desde o início, a MA começou a apostar no debate sobre estes temas, promovendo encontros como “A Cidade: Mulheres e Raparigas” que, em ano de eleições autárquicas, falou da vivência das cidades pelas mulheres. Durante sete meses organizaram as palestras “Arquitetas: Modos de Existir”, sobre as diferentes formas de exercer esta profissão e, em parceria com a Roca Gallery, em Lisboa, têm vindo a organizar os encontros “Espaços para Arquitetas” onde, a cada sessão, destacam o trabalho de uma profissional ou de um coletivo feminino a trabalhar nesta área. Têm já vários projetos na manga para 2019: vão integrar o projeto BipZip, Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária do Município de Lisboa, onde levarão os jovens das escolas a pensar sobre as questões do espaço e das desigualdades de género. Voltarão também a promover oficinas sobre este tema com gente de todas as idades. “Vamos, entre outras coisas, pôr as pessoas a passear no espaço público, saindo daquilo que são e tentando o role playing: então e se eu for uma jovem mulher de cadeira de rodas, uma mulher de 80 anos? É muito interessante ver as conclusões das pessoas, quando se colocam no lugar do outro”.
Que desafios enfrentam as arquitetas em Portugal, atualmente?
Por um lado, enfrentam os mesmos desafios que enfrentarão os homens arquitetos, e que se prendem com um genérico menosprezo pela profissão e pela qualificação que trazem ao espaço urbano e doméstico, à vida das pessoas. Isso tem a ver com a história da própria profissão e de esta nunca se ter sabido colocar como parte do tecido decisório do país, a par de outras profissões liberais como engenheiros, advogados ou médicos. São completamente residuais os deputados, ministros ou secretários de estado, de ambos os géneros, licenciados em arquitetura — virão logo à memória os nomes de Nuno Portas, secretário de Estado da habitação logo a seguir ao 25 de Abril, e Helena Roseta, deputada e ex-presidente de câmara, mas pouco mais.
Depois, tal como noutras profissões, existe ainda um lastro muito grande de uma profissão que nascerá (e ponho aqui uma interrogação) como masculina. É uma profissão onde as mulheres entram tardiamente — academicamente, a primeira mulher que defende o CODA (concurso para a obtenção de diploma de arquiteto) é a Maria José Estanco, em Lisboa, em 1942 ou 43, e na mesma altura, no Porto, a Maria José Marques da Silva, filha do Mestre Marques da Silva.
Neste momento, temos inscritas na Ordem dos Arquitetos 43% de mulheres e estamos a subir a uma média de 1% por ano. Somos mais a entrar e a sair dos cursos superiores de arquitetura e em breve seremos 50% na profissão. Mas há que saber se permanecem na profissão 10 anos depois de terem ingressado. Os números dizem-nos que as taxas de pedidos de suspensão na Ordem são muito maiores entre as mulheres do que entre os homens, o que pode ter várias leituras que têm que ser estudadas. Mas diz-me o meu conhecimento empírico que a vida na profissão é muito desregulada, à semelhança do que acontece em outras profissões: é uma profissão mal paga, onde ainda há horas de entrada mas não de saída, é preciso trabalhar aos fins de semana se há entregas, e onde há falta de direito ao lazer. Continua a ser dito nas escolas que se dormimos na noite anterior à entrega de um projeto é porque ele não ficou assim tão bom, ou seja, há a ideia de que o trabalho em catadupa e em sofrimento é que é bom, e não uma boa organização.
A inexistência de uma tabela que configure uma certa ordem no que é pago por determinado tipo de trabalho faz com que, para ganhar trabalho, se baixem preços ao absurdo e, igualmente, o preço da mão de obra que trabalha nos ateliers. E quando ainda vivemos numa sociedade com papéis de género muito claros, se a mulher pensa ter filhos tem, tradicionalmente, uma dupla jornada de trabalho pela frente.
“Temos colegas que nos dizem que, depois de engravidarem, deixaram de ter certas responsabilidades, ou que, por estarem a recibos verdes, não são convidadas a continuarem no atelier depois de serem mães.”
Isso afeta a distribuição de trabalho no atelier?
A cultura de atelier continua a ser uma tradicionalmente classista e a visibilidade continua a ser eminentemente masculina. Mas isto não se passa só em Portugal. Temos colegas que nos dizem que, depois de engravidarem, deixaram de ter certas responsabilidades, ou que, por estarem a recibos verdes, não são convidadas a continuarem no atelier depois de serem mães. Ou que passaram a ser mal vistas por terem que sair a horas para irem buscar os filhos à escola. Trabalho que é feito sem condições e sob uma pressão enorme, tira a possibilidade de se fazer um bom produto e isto é culpa de um mercado que está cada vez mais selvagem. Fazer “para ontem”, barato e bem não é possível e ainda se acha que a arquitetura é fazer uns rabiscos.
E há muita gente a recibos verdes?
Isso é um inquérito que a Ordem precisava de fazer à profissão — vamos ter eleições em breve e a MA vai querer fazer um pedido para que as listas se posicionem quanto a certas questões, porque é fundamental saber quem somos ao longo da vida na profissão através de um inquérito, como já é feito nos Estados Unidos há uns anos, para percebermos quais as nossas preocupações a nível profissional e, a partir daí, agirmos e nos reinventarmos enquanto Ordem dos Arquitetos — a Ordem é muito pouco considerada dentro da classe e não há um grupo de trabalho sobre mulheres arquitetas, como acontece lá fora.
“É fundamental para as nossas estudantes dar visibilidade ao trabalho de mulheres arquitetas, porque se não souberem que elas existem, começamos a acreditar que, se calhar, não é uma profissão para nós.”
Como está a visibilidade pública das arquitetas?
O reconhecimento público da profissão ainda é muito elitista e um somatório de principados. Quem é visível e tem prémios está tradicionalmente ancorado numa genealogia e numa rede de contactos que lhes garante o acesso a prémios, à conferências, à publicação ou às exposições. Por outro, temos a democratização da formação no acesso à profissão, que contribui para um operariado cheio de competências e com poucos direitos de trabalho, que alimenta estas máquinas. Tradicionalmente, a arquitetura continua a ser vista como modelo de “profissão estrela”: quem ganha um Prémio Pritzker é um personagem, na maior parte das vezes, homem, branco e maduro, que normalmente pertence a uma elite — o que lhe permitiu ter um atelier em nome próprio, o que é difícil.
Há ainda um défice de mulheres a serem chamadas para falar [em conferências, palestras ou eventos públicos]. Faço sempre esta experiência com os meus alunos: peço-lhes para me darem o nome de 5 arquitetos. Lá me vão falando do Siza Vieira e do Souto Moura, alguns do Niemayer. Quando peço para me darem o nome de 5 arquitetas, o silêncio é constrangedor. Às vezes alguém me fala da Zaha Hadid ou da brasileira Lina Bo Bardi, mas é o melhor que consigo. É fundamental para as nossas estudantes dar visibilidade ao trabalho de mulheres arquitetas, porque se não souberem que elas existem, começamos a acreditar que, se calhar, não é uma profissão para nós. E já nos bastam os papéis de género com que somos sabotadas desde tenra idade. Isto não é uma questão de mérito. Não chegamos lá por diversas razões: porque dá trabalho encontrar-nos ou porque a saída para aquele jantar de negócios é difícil para quem tem filhos a seu cargo.
Quais são, hoje, as grandes saídas profissionais para as jovens recém-licenciadas nesta área?
Diria que são as que tradicionalmente já existiam no século passado. Acabámos a fazer muitas coisas e nem sempre só projetos — homens e mulheres. Mas ainda se acha mais anormal quando uma jovem diz que quer ter um atelier em nome individual. Temos mulheres invisíveis profissionalmente, mas que estão a desenvolver trabalho em câmaras municipais, nos bastidores dos grandes ateliers de arquitetura ou nas direções gerais. Acontece-nos o mesmo que em outras profissões, com o glass ceilling: as mulheres não chegam aos lugares de decisão, muitas vezes porque decidem que não querem trabalhar todos os serões ou porque não têm quem lhes cuide dos filhos — isso é sempre cobrado à mulher, mas não ao homem.
“Os espaços públicos e privados são concebidos como se fossem neutros em termos de género, mas na verdade trata-se de um falso neutro porque temos uma sociedade em que as cidades são pensadas consecutivamente sob o ponto de vista do homem e sem diversidade funcional.”
Essa falta de diversidade nos lugares de decisão também condiciona a maneira como os espaços públicos são projetados e a maneira como as mulheres os utilizam?
Os espaços públicos e privados são produto da sociedade — e podemos dizer que ainda vivemos numa sociedade patriarcal. São concebidos como se fossem neutros em termos de género, mas na verdade trata-se de um falso neutro porque temos uma sociedade em que as cidades são pensadas consecutivamente sob o ponto de vista do homem e sem diversidade funcional. Estudos de mobilidade recentes, como o da Margarida Queiroz, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, dizem-nos que, habitualmente, os homens têm percursos mais bidirecionais (trabalho/casa, casa/trabalho), utilizando transporte próprio. As mulheres têm múltiplos micro percursos entre a casa e o trabalho, que incluem levar e buscar os filhos à escola, ir às compras ou passar pela farmácia, por exemplo. Se falo nas mulheres é porque os estudos ainda nos dizem que é sobre elas que ainda recai a maior parte da dupla jornada e que são elas a maioria dos cuidadores da família. É preciso pensar as cidades na ótica da proximidade, que é boa para homens e mulheres, e tudo isso traz qualidade de vida. Normalmente, quem se opõe a cidades sem carros são as classes mais altas e os homens.
O espaço público e os transportes públicos, por exemplo, não são sítios nada neutros e seguros para as mulheres e raparigas, no que respeita ao assédio. Todas temos histórias de assédio e violências diversas sobre a nossa integridade física e emocional nestes espaços. Gostamos nós, Mulheres na Arquitetura, de frisar que o tema do espaço público não se prende apenas com segurança. Temos um trabalho a fazer na educação, mas também no macro e micro desenho das cidades. É importante que os decisores percebam que ninguém sabe melhor sobre a sua rua, bairro ou cidade do quem lá vive, homem ou mulher.
Em que faz falta pensar, então, quando se concebem os espaços?
Faz falta ouvir as pessoas. Mas isso depende de bairro para bairro e de pessoa para pessoa. Se for uma mulher que vive nos subúrbios, que tem que ir trabalhar às 5 da manhã, o que acontece com os seus filhos, onde os deixa? O que acontece com com a sua segurança, ainda de madrugada e sem transportes? Se for uma pessoa de 80 anos num bairro de Lisboa (que tem grandes declives, como sabemos)? Se tiver a pouca sorte de ser pobre e cair à cama com um problema de mobilidade, pode ficar anos sem sair de casa, porque simplesmente não consegue subir e descer as escadas. Estas pessoas vivem, muitas vezes, de redes de solidariedade da vizinhança. Para uma adolescente de 14 anos a solução pode passar por ter transportes públicos regulares no trajeto de casa para a escola, para não ter de ir de pé, sujeita a ser assediada. Estamos a falar de realidades! Em conferências em Coimbra e na Covilhã, algumas estudantes disseram-me que se organizam para nunca voltarem sozinhas para casa, de noite, porque o assédio e violações em contexto universitário são maiores do que pensamos.
“Nós não podemos nem queremos assinar projetos de engenharia civil, como projetos de estabilidade, por exemplo. Seria absurdo e o contrário também me parece óbvio.”
Sobre a polémica da sobreposição de responsabilidades entre engenheiros e arquitetos: qual a situação atual e a sua opinião sobre ela?
Esta é uma perspectiva estritamente pessoal. Penso que são profissões com competências totalmente complementares. Durante muito tempo houve um défice de arquitetos que fez com que se considerasse como aceitável, durante muito tempo, a norma transitória que concedia aos engenheiros, em projetos até determinado número de metros quadrados e pisos, que pudessem assinar projetos de arquitetura. Nós não podemos nem queremos assinar projetos de engenharia civil, como projetos de estabilidade, por exemplo. Seria absurdo e o contrário também me parece óbvio. Entretanto, começou a haver muito mais gente formada em arquitetura e iniciou-se a luta para que se cumprisse o fim dessa norma transitória e que os projetos de arquitetura fossem apenas competência quem tem formação nessa área.
O que se criou aqui foi o alimentar de um antagonismo tradicional que penso que nos distrai da luta pela qualidade da arquitetura. É preciso dar condições para que ela seja bem feita e que os concursos públicos sejam qualificados; é preciso perceber que, convidar um grande nome da arquitetura não é nem garante de qualidade arquitetónica nem de um processo de construção progressista de cidade. E é cada vez mais preciso que esta disciplina e a cidade sejam participados e, portanto, não decididos apenas na esfera de poder supremo das elites políticas. A arquitetura não é para ser consumida, é para ser habitada.
Penso que a Ordem dos Engenheiros gastou uma energia muito grande a desvirtuar esta profissão, em vez de insistir na afirmação da qualidade dos seus profissionais sem tentarem arranjar trabalho para mais um nicho. Espero que sejamos todos tremendamente competentes e que nos reforcemos pelo lado complementar que temos.