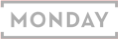Manuela Doutel Haghighi saiu de Portugal em 1995 para ir estudar e por lá ficou mais de 25 anos. Trabalhou em 7 países em 3 continentes, tendo feito quase toda a carreira ligada ao Reino Unido, com uma passagem pela Noruega e África do Sul, e, sobretudo, em multinacionais de tecnologia como a IBM, onde esteve 17 anos, e agora a Microsoft, onde está há dois anos, como Global Customer Success Account Director.
Ser mulher, jovem, estrangeira, mais tarde mãe solteira, no mundo muito masculino das tecnologias — desde a área comercial, aos grandes negócios de outsourcing ou gestão de crise de clientes —, foi para Manuela Doutel Haghighi um desafio constante, porque quanto mais subia na carreira, menos mulheres encontrava e maiores eram os desafios. A sua rede de network feminina foi fundamental neste percurso e por isso quando decidiu regressar a Portugal, em 2021, para gerir uma conta global japonesa, já trazia consigo a vontade de co-criar o primeiro Women Network da Microsoft Portugal
Nesta entrevista, Manuela Doutel Haghighi fala-nos sobre a sua carreira e, sobretudo, da importância que as muitas mulheres com que se tem cruzado — mentoras, sponsors, coaches, chefes e pares — tiveram nas aprendizagens e nas escolhas que tem feito.
Saiu para estudar e voltou 25 anos depois. O que a manteve fora tanto tempo e o que a fez voltar?
Antes de sair de Portugal, já tinha vivido fora. Nasci em Toulouse, vivi em Paris e Teerão, antes de vir para Lisboa aos 7 anos. Por isso, o bichinho da curiosidade, de conhecer novas pessoas e de viajar sempre esteve em mim. A isso adiciona-se uma característica muito minha que é nunca fazer planos a longo prazo. A pior pergunta que me podiam fazer quando era miúda era “o que queres fazer quando fores grande?”, e já graúda “o que queres fazer daqui 5 ou 10 anos?”
Depois de ter estudado no Liceu Francês de Lisboa, decidi voltar para Toulouse, onde comecei por estudar dois anos numa “classe préparatoire HEC” ( Hautes Ecoles de Commerce) para depois passar os concursos nacionais e integrar a Toulouse Business School. Hoje percebo o quão a cultura francesa me influenciou ao longo da vida — na faculdade tinha aulas de Filosofia e Cultura geral apesar de estar a estudar Economia e gestão. Na minha opinião, os franceses são o povo que mais cultiva o intelecto e a cultura geral, e isso passa pela sua incessante curiosidade de ler, estudar e ir conhecer outros povos para se enriquecerem tanto no intelecto como emocionalmente.
De Toulouse fui para Oslo fazer um estágio como consultora da cadeia logística da Jordan (produtos de higiene oral). Desde perceber o que é um país que se organiza em função das estações extremas, até viver no dia-a-dia um capitalismo socialmente responsável, a Noruega ficou-me como o exemplo mais próximo duma economia liberal onde o Estado equilibra crescimento sustentável com justiça social.
O CEO almoçava quase todos os dias na cantina com os colaboradores, sem fato nem gravata, sem ser doutor ou engenheiro (a mania muito portuguesa que mais me irrita), conversava com cada um e, no final do dia, saía sempre depois dos seus colaboradores e nunca mais do que uma hora depois, pois valorizava o tempo com a sua família. Na maior parte das empresas os objetivos anuais são decididos em colaboração com os sindicatos dos trabalhadores. Finalmente, na Noruega, os ministros andam de transportes públicos pois são funcionários como os outros, e até um príncipe herdeiro paga multas por excesso de velocidade como qualquer outro cidadão.
Porque decidiu fazer o MBA nos Estados Unidos?
De Oslo fui para Oklahoma (em linguaguem índia quer dizer “povo vermelho”) fazer um MBA, no país onde nasceram os MBA. Por um lado, queria muito ter a perspetiva americana dos negócios, mas ainda hesitei bastante pois não era uma localidade apelativa para uma jovem de 22 anos. Dito isto, acabou por ser uma excelente escolha por ser tão diferente de tudo o que já tinha vivido. Terra de cowboys e furacões, onde se juntaram uma grande concentração de tribos índias expulsas de outros estados, deparei me com uma cultura da Bible belt, conservadora, mas também em busca de modernidade. Aproveitei para dar a volta a quase todos os EUA de carro durante as férias com um grupo de estudantes, e pude vivenciar na primeira pessoa a vida dos americanos. As minhas aulas preferidas foram as de Business & Ethics, escusado será de dizer que era eu de um lado a debater com o resto da turma do outro lado! Adorei aquela experiência, em particular o pragmatismo das pessoas, a abordagem muito original e sustentável das tribos índias para os negócios, e sobretudo adorei a maneira dos Americanos de lidarem com clientes, daí até ter feito uma longa pesquisa sobre “customer service”.
O que a trouxe de volta à Europa?
Foi um ano excecional, mas também percebi que era na Europa que eu queria viver. È verdade que os EUA são uma terra de oportunidades, mas para mim, o dinheiro não é tudo, nem justifica tudo. Apesar dos seus muitos defeitos e deficiências, a Europa foi, e continua a ser, o berço dos direitos humanos, dos direitos dos trabalhadores, e do equilíbrio entre o capital e o social.
Procurei emprego durante o ano 2000, mandei currículos para todos os países onde falava a língua local, em particular para multinacionais, pois queria viajar e ter escolhas, mas Portugal não era uma opção. De cada vez que regressava de férias, com a mente cada vez mais desperta para o mundo, as mentalidades com que me deparava pareciam-me ainda muito paradas no tempo.
Foi também nesse período que comecei a perceber que havia preconceitos em certos países europeus em relação à origem das pessoas ou das instituições onde tinham estudado, como se esses fossem relevantes para um emprego e devessem ser um carimbo para a vida. As perguntas nas entrevistas de emprego dizem-nos muito sobre as pessoas e a cultura duma empresa.
Fui para Joanesburgo numa missão de um ano e fiquei três. Foi lá que tive o meu filho e que criei o primeiro Women Network.
Foi por isso que escolheu a IBM como primeiro emprego?
Foi por essas e por outras razões que aceitei o meu primeiro emprego na IBM, mas sobretudo na IBM do Reino Unido. Na primeira década de 2000 esse país ainda estava em crescimento e apostava, como o fazem também os EUA, nos indivíduos que tinham vontade de trabalhar, inovar e crescer. Vivi em Portsmouth, sede da IBM, e aprendi a desfrutar duma vida equilibrada numa cidade de província, onde todos trabalhavam das 9 às 5 e todos se encontravam no pub a seguir.
Digo todos, porque contrariamente a Portugal onde as classes sociais continuam a não se misturar, no Reino Unido todos gostam de beber uma cerveja ao fim do dia, e tirando as realezas, os britânicos são pessoas de festa e com poucos complexos em particular nos pub.
Em 2007 fui em assignment com a IBM para Joanesburgo, na África do Sul, um dos países dos BRICS em crescimento. Fui para uma missão de um ano, mas acabei por ficar mais de três, até porque entretanto tive lá o meu filho. É um país de contradições, onde vivi o melhor e o pior do ser humano. Deparei-me com um apartheid ainda presente, conjugado com uma transição para a democracia frágil, infrastruturas ainda em desenvolvimento e vivendo todas essas mudanças na área dos negócios. Fiz da minha missão de trabalho também uma missão pessoal e humana, criando o primeiro Women Network e trabalhando com a POWA (People Opposing Women Abuse) aos fins de semana nas favelas de Kliptown, no Soweto. Também tive a oportunidade de visitar e viver a realidade local com amigos brancos e negros, apesar de raramente se misturarem.
Ao acabar essa missão, ofereceram me cargos em Lagos, no Dubai e em Istanbul. Recusei todas pois era mãe solo e não queria sacrificar nem o meu filho nem a minha carreira, e decidi regressar para Portsmouth onde já conhecia a cultura, tinha boa reputação e conexões na empresa, e tinha uma rede de apoio com os meus amigos. Foi uma decisão difícil porque eu adoro viver em países diferentes, mas quando decidi ser mãe, soube que estava a fazer uma escolha que ia influenciar os próximos 18 anos da minha vida, e se voltasse atrás fazia exatamente igual.
Não se deve voltar onde se foi feliz. No seu regresso encontrou o Reino Unido numa fase diferente.
A Inglaterra para a qual voltei em 2010 já não era, efetivamente, a mesma: estávamos numa crise financeira na Europa e vieram os tempos dos cortes nas empresas, no Estado e como bem sabemos, com todas as crises económicas vêm as crises sociais, o que significa sempre crescimento de populismos. A narrativa anti-Europa dos “tabloides” ingleses foi crescendo com argumentos absurdos para justificar a crise que atravessava o país. A isso adicionaram-se a minha experiência com o sistema bastante rígido do ensino inglês, misturado com a imposição da monarquia e da religião de Estado, e o meu aproximar dos 40 anos.
Trabalhar muito e ganhar bem, mas a viver num país que não queria fazer parte do projeto europeu, cinzento, apertado e onde não encontrava nem um galão nem um companheiro de jeito, combinado com a minha vontade de querer dar uma educação verdadeiramente internacional ao meu filho, aproximá-lo da família, fez com que o Brexit de 2016 fosse o impulso certo da decisão de regressar.
Convenci a IBM a deixar me trabalhar de Lisboa, fazendo assim idas e voltas semanais a Londres, e instalei o meu filho numa escola internacional. Entretanto, mudei para a Leidos baseada na Escócia, e as viagens constantes continuaram. Regressei definitivamente em 2021 com um convite da Microsoft para um posto global e onde negociei Portugal para o meu contrato pessoal.
Gostando de viver em países diferentes e não se revendo na mentalidade portuguesa, o que a fez voltar?
Quis voltar, primeiro para dar estabilidade ao meu filho: a partir dos 8-10 anos de idade eles agarram-se aos amigos e à escola onde estão, por isso se era para mudar era nessa altura. De seguida, queria que ele pudesse andar na rua sem eu me preocupar. A qualidade de vida que aqui teríamos era inigualável.
Queria também começar a contribuir para acelerar a transição social de Portugal, com tudo o que aprendi pelo mundo fora: a começar com o lugar das mulheres, das minorias étnicas e dos menos privilegiados nas empresas, na economia e, portanto, na sociedade. Às vezes é mais fácil ir ajudar os outros na terra deles com desafios que no fundo nunca são bem os nossos, e foi também por isso que decidi regressar e tentar mudar as coisas “cá em casa”.
Aprendi a importância de dizer “não sei”, de arriscar a experimentar atividades onde não fazia ideia sequer do que estavam a falar (nem sequer percebia o sotaque dos ingleses) e de fazer muitas perguntas… ainda hoje sou assim!
Como evoluiu a sua carreira e qual a fase mais empolgante que viveu?
O que comecei por perceber quando integrei a IBM é que o meu curso não era tão importante no conteúdo nem no prestígio da instituição, quanto as minhas competências interpessoais, o meu raciocínio e a minha abordagem para resolver problemas o eram.
Integrei um programa executivo na área de negócios de outsourcing, em que fiz rotações de seis meses desde as vendas, à gestão comercial, como implementação de grandes projetos de transição digital. Aprendi a importância de dizer “não sei”, de arriscar a experimentar atividades onde não fazia ideia sequer do que estavam a falar (nem sequer percebia o sotaque dos ingleses) e de fazer muitas perguntas… ainda hoje sou assim!
O que gostei, sobretudo, nessa fase foi que juventude foi sinónimo de oportunidades para experimentar, aprender, pedir por mais e crescer. Os meus managers, mentores e patrocinadores, muitos homens, aliás, nessa fase inicial, na IBM, foram fantásticos e essenciais para me moldar para o futuro. O Philip Nisbett ensinou-me a perceber de contratos e negociações como ninguém. O Mike Powell ensinou-me a estabelecer relações de confiança e a desenvolver propostas com valor para os clientes. O Barry Hill ensinou-me a arte da qualificação das vendas, e o Chris Kelway deu-me um conselho que me valeu para toda a minha carreira: “se quiseres ser uma boa vendedora de serviços, vai aprender a implementar e gerir um desses contratos que assinamos para perceberes o que estás a vender”. Com todos eles percebi que para se ser um bom profissional ou líder em qualquer profissão é preciso antes de tudo pôr-se sempre no lugar do outro.
As formações da IBM também foram essenciais, para cada família de profissões existiam cursos específicos, com exames e certificações no final. Acho que a IBM Sales School foi talvez a que mais me marcou porque me ensinou a arte e as técnicas de vendas e negociações que me ficaram para a vida: imaginem que nos ensinavam a lidar com todas as objeções possíveis e imagináveis de qualquer tipo de cliente, desde um diretor técnico a um CEO, e sem nunca podermos dar um desconto!
Comecei a desenvolver contas existentes e depois fui para as vendas de contratos de outsourcing. Disseram me que o primeiro contrato é o que nos marca para sempre, e é verdade, porque apesar de já ter vendido contratos de mais de 50 milhões de dólares, o que me marcou para sempre foi o primeiro, de 500 mil, ainda me lembro de me sentar no carro com o contrato assinado nas mãos a rir e a chorar ao mesmo tempo!
É então que acontece a mudança para a África do Sul?
É isso mesmo, o marco a seguir foi o assignment na Africa do Sul. Fui como representante da IBM UK para fazer crescer todos os negócios de Outsourcing do país, sem mais nenhuma instrução ou preparação, e isto com 29 anos! Sabia que ia para uma ex colónia europeia, não sabia o quanto o apartheid tinha sido brutalmente enraizado nas mentalidades, e deparei-me entre a cultura minuciosamente organizada no Reino Unido para quem reportava, como uma cultura local onde cada um fazia várias funções e se valorizavam mais as relações interpessoais do que as regras empresariais, europeias.
Aprendi a ser mais diplomata, mas também mais humana: provei aos sul-africanos que não era “mais uma europeia branca” que vinha com a sabedoria toda, ao mesmo tempo que os ajudava a lidar com as chefias internacionais. Também foi aí que passei para a parte da gestão de contratos de outsourcing, e adorei, apesar dos muitos desafios, sobretudo, culturais. Os meus líderes, Debbie Minnaar e Mteto Nyati, foram exemplos de liderança humana que ficaram comigo para toda a vida. Foram três anos fantásticos a nível profissional e pessoal, talvez a fase mais empolgante que tive.
De regresso ao Reino Unido tive um choque de culturas, e com o meu filho nos “terrible twos”, achava eu que podia ser a super mulher, até acabar com um burnout. Considero até hoje o burnout de 2010 como uma grande dor de crescimento na minha carreira e na minha pessoa.
Cresci imenso como gestora de grandes contas nos anos que se seguiram. Acabei os últimos anos na IBM a trabalhar num contrato global de transformação digital de várias centenas de milhões de dólares e aprendi, em particular, com a Jo Mitchell o que era liderar no feminino — entre proteger os seus colaboradores e saber gerir desafios globais com clientes muito séniores.
Sempre mudei de posto depois de 2 a 3 anos; 6 a 12 meses para aprender, 12 a 18 meses para provar resultados, 6 a 12 meses para encontrar o próximo posto.
Como é que entra diretamente para o board na Leido?
Na Leidos fui trabalhar diretamente para o board, primeiro ao montar uma equipa de pre-vendas e depois para alinhar os métodos de gestão de contratos públicos das quatro empresas que compunham a Leidos depois da sua aquisição. Aí aprendi estratégia, diplomacia, e como se deve ficar perto dos colaboradores mesmo estando “lá em cima”.
Entretanto, fiz uma pós-graduação em Direitos Humanos na Universidade de Coimbra, pois foi sempre uma grande paixão na minha vida. Era o ano da segunda vaga da pandemia, e como tantos outros, questionei o meu propósito na carreira e na vida.
Antes de chegar ao meu posto atual, pedi conselhos à minha grande amiga Besma Kraiem, uma mulher de negócios como há poucas, e escrevi uma carta à mão, não ao pai nem à mãe Natal, mas a mim própria, descrevendo o tipo de posto que queria, no tipo de empresa, com o tipo de salário, condições e equipas. Passados três dias, recebi um convite no LinkedIn dum recrutador da Microsoft com quem já tinha conversado no passado, e lá estava ele com uma proposta… saída quase linha por linha da minha carta!
E cá estou eu, na área de Customer success, num posto global como diretora, baseada em Portugal, tendo a oportunidade de descobrir o Japão e as culturas asiáticas, a servir o mundo com equipas multiculturais e clientes internacionais, e como co chair do Women Network de cá, um conceito que estamos a partilhar na indústria e com outras empresas.
Hoje, diria que é esta a fase mais empolgante pois é uma mistura de tudo o que gosto de fazer, que sinto que estou aos poucos a influenciar como evolui a sociedade portuguesa, e ao mesmo tempo a viver uma nova etapa mais sénior na minha carreira como diretora, por isso a aprender técnicas novas de gestão e liderança.
Na minha última entrevista de trabalho, foi o eu dizer que gostava de “fazer a gestão do caos” que me destacou dos outros candidatos.
Já trabalhou em várias áreas e países. Lida bem com a mudança?
Eu lido melhor com a mudança do que com o status quo! O que sempre me incomodou na minha vida fosse no trabalho fosse na vida pessoal foi a rotina. A nível profissional sempre mudei de posto depois de 2 a 3 anos: 6 a 12 meses para aprender, 12 a 18 meses para provar resultados, 6 a 12 meses para encontrar o próximo posto. As multinacionais têm essa vantagem: dão oportunidades para experimentar novas áreas, novos percursos, novos projetos.
Claro que para isso é preciso saber arriscar, e isso é talvez uma das minhas melhores qualidades que em grande parte herdei dos meus pais. Ambos saíram de casa aos 18 para estudar, ambos saíram primeiro das suas cidades e depois dos seus países para irem descobrir o mundo. A minha mãe foi professora no Brasil, no Zimbabwe, em França antes de regressar a Portugal. O meu pai foi estudar para França, e depois fez uma carreira internacional de liderança no Irão, Portugal, Bélgica, México. Portanto, mudar de país, ir viver e trabalhar em países nem sempre vistos com bons olhos é a minha sina.
Depois há o facto de ser um dos cisnes negros da família e também no meu meio profissional, sempre diferente, mais arriscada, muitas vezes imprevisível, por isso em tempos de crise e de grandes mudanças, no trabalho como na vida pessoal, sou das que mais encontra oportunidades de crescimento pela frente e toma decisões estratégicas nessa altura. Na minha última entrevista de trabalho, foi o eu dizer que gostava de “fazer a gestão do caos” que me destacou dos outros candidatos!
Viver em países diferentes é dos maiores prazeres que tenho na vida. Chegar a um aeroporto, não perceber o sotaque ou a língua, tentar comunicar com estranhos, apanhar transporte público, levantar dinheiro, e ler um mapa dá me um prazer indiscritível. Observar as pessoas, fazer amigos de culturas diferentes, ver como pensam, como comem, o que leem, como se divertem é um dos meus hobbies preferidos.
O meu sonho de “reforma” seria viver num país diferente a cada ano, para o resto da minha vida.
Ao longo da minha vida tomei muitas decisões pouco populares: perdi amigos, perdi aumentos de salário e até de promoções, mas de cada vez ganhei mais confiança, mais ética e mais coragem.
Mulher, jovem e estrangeira, como conseguiu lidar com todas essas barreiras?
Eu acho que nascemos todos diferentes, mas a sociedade, a família e em parte a biologia faz que queiramos pertencer a um grupo que nos perceba.
Por isso, como sou uma Third Culture Kid e assim o serei sempre, sempre me juntei aos que eram diferentes também. Na escola ia sempre ter com os que eram mais tímidos, postos de lado, ou meio estrangeiros como eu. Tive direito a bullying por duas vezes e aos 16 jurei que não iria mais deixar isso acontecer nem a mim, nem aos outros. Uma coisa que aprendi sobre os bullys, é que não esperam que lhe façamos frente. Por isso fazer frente aos abusadores de todo o tipo faz hoje parte da minha natureza.
Na faculdade, fiz questão de aprofundar o conhecimento dos outros, e as aulas de cultura geral, as dissertações e os testes de argumentação em França, mas também viver nos EUA e na Noruega, ajudaram-me imenso a abordar de maneira diferente qualquer assunto, situação ou pessoa.
Ao longo da minha vida deparei-me com casos de discriminação, primeiro sociais, depois racistas, a de género, fossem casos pessoais fossem casos dos que me rodeavam.
E sempre fiz questão de confrontar isso. “Quem cala consente” é um dos meus lemas.
Como estrangeira, sempre usei as minhas origens como cartão de apresentação. E quando algo era diferente do status quo, usei muito o humor para fazer passar a diferença.
No início da minha carreira, vestia-me de forma mais formal para ser levada a sério. Depois aprendi a primeiro ouvir e valorizar os mais experientes, resumindo, muitas vezes, o que tinham dito por palavras minhas, ganhando assim a sua confiança, para depois obter o direito a apresentar as minhas propostas. Nem sempre estavam de acordo, mas a minha teimosia inata fez com que avançasse quase sempre e os resultados falavam por si.
Também tive humildade suficiente quando errava de o dizer abertamente, e até desenvolvi competências na área de lessons learnt.
Finalmente como mulher, percebi que quanto mais subia, menos mulheres via, e mais havia um padrão de gestão e negócios com que não me identificava. Então comecei a introduzir métodos de colaboração, usando métodos ágeis, transparentes e, sobretudo, inclusivos aos quais muitas pessoas aderiram.
Ao longo da minha vida tomei muitas decisões pouco populares: perdi amigos, perdi aumentos de salário e até de promoções, mas de cada vez ganhei mais confiança, mais ética e mais coragem.
E o que ganhei foi em grande parte por escolher rodear-me das pessoas certas ao longo dos anos: mentores, mentorados, role models e amigos.
Acredito no poder da comunidade, da entreajuda e da sororidade, por isso as barreiras são sempre o meu ponto de partida para a mudança.
Comecei a trabalhar menos horas, a ser menos perfecionista, a delegar mais, passei a ser mais eficiente, e sobretudo a perceber melhor as políticas à minha volta e, em consequência, a ter melhores resultados!
Qual o momento mais delicado porque passou na sua carreira e como o superou?
O meu burnout em 2010. Hoje, falo muito abertamente sobre os desafios da mente por causa disso.
A primeira coisa a perceber é que os burnouts só acontecem aos que fazem demasiado e não aos preguiçosos. Muitas vezes temos vergonha de admitir aquilo que achamos será visto como sinal de fraqueza, tal como tratar da nossa saúde física, mental ou emocional. Isso porque vivemos em sociedades que só valorizam energia e características masculinas, em particular a cultura do/da Alfa.
Ora se nos dessemos ao trabalho de analisar aqueles que parecem vencer nesse mundo alfa, perceberíamos que têm muitas vezes complexos de inferioridade, são muitas vezes disfuncionais nas suas vidas pessoais e muitos até têm transtornos de personalidade que eles próprios desconhecem.
Durante os dois meses em que fui obrigada a parar, pois tinha deixado de dormir com insónias e crises de choro, trabalhei com uma psicóloga e com a minha coach para perceber as causas (“root cause analysis” é um dos básicos da tecnologia e da medicina!) do meu burnout, perceber o que tinha contribuído para chegar a esse ponto, desde ir aos meus padrões de comportamento até à minha mudança de chefias, e depois fazer um plano de cura e regresso, bem como um plano de definição de limites.
Regressar depois de dois meses fora e logo no segundo dia enfrentar a equipa toda (ainda por cima só de homens, todos mais velhos e quase todos alfas) foi muito duro, mas como o meu lema é viver um dia de cada vez, também assim encarei o meu regresso, um dia de cada vez.
Tenho de mencionar um curso que também mudou a minha vida para onde um dos meus sponsors, Andrew Spencer, me enviou: “Building relationships and influencing skills for senior women”. Ajudou-me a reconquistar a confiança e também a perceber algumas das razões do meu burnout, entre elas, a minha ingenuidade. Foi aí que aprendi um dos modelos que mais uso e partilho ainda hoje, “political skills for managers”, de Simon Baddeley e Kim James, onde aprendi a lidar com os quatro tipos de “animais” políticos de qualquer organização: os carneiros inocentes, as corujas sábias, as raposas espertas, os burros incompetentes.
Comecei a trabalhar menos horas, a ser menos perfecionista, a delegar mais, passei a ser mais eficiente, e sobretudo a perceber melhor as políticas à minha volta e, em consequência, a ter melhores resultados!
Parece fácil assim escrito, mas não foi, nem é. Dei sempre três passos em frente e um atrás. Por isso acho importante estar em terapia ou coaching ao longo da vida; é como fazer exercício físico, mas para a mente, até porque tanto o corpo como a nossa mente vão evoluindo ao longo da vida, e o que nos serviu aos 20, já não vai funcionar aos 30, 40, 50 ou 60. Os desafios aos 20 são diferentes dos desafios dos 40, e por exemplo a inteligência política têm de ser mais afinada quanto mais se cresce nas organizações, e por isso tenho de continuar a aprender!
Muitas vezes, olha-se para grupos de mulheres como sendo lobbys anti-homens, quando são apenas grupos de mulheres que se entreajudam e puxam pelas gerações seguintes, como fazem os homens desde sempre, apenas não lhes dão um nome.
Em que fase percebeu que precisava da ajuda de outras mulheres mais experientes para conseguir progredir na carreira?
Eu diria que a minha mentora de estágio, que foi a vice-presidente da Jordan, a Kari Broberg, e de seguida a minha primeira manager na IBM, a Vanessa Gough, souberam canalisar a minha energia de maneira útil em termos profissionais, por exemplo, em vez de ser tão intensa nas reuniões, mostraram como podia pôr a minha energia extra em atividades extra curriculares.
Com a Viki Crocker que fez a minha entrevista final para entrar na IBM, quando me perguntou quais eram os meus defeitos e eu disse: ser perseverante (uma palavra bonita para dizer teimosa!), falar muito e ser pouco diplomata, ela desatou a rir e passámos meia hora a falar desses nossos “defeitos” em comum e como poucas pessoas nos compreendiam. Brinco sempre quando digo que o que me diferenciou na minha entrevista foram os meus defeitos!
No programa executivo da IBM atribuíram-me uma sponsor, a Amanda Brumpton, que desde cedo puxou por mim e me integrou na sua rede de mulheres. Todas são 10 a 15 anos mais velhas que eu, e ao princípio sentia-me desconfortável por achar que não merecia estar ali com aquelas profissionais tão seniores e competentes, como achava que não tinha nada a acrescentar.
Hoje percebo-as tão bem. Viram em mim a jovem que elas tinham sido e queriam puxar para cima a próxima geração. Verdade seja dita que eu também trabalhei muito com elas, apresentei sempre resultados acima da média e mostrei ser de confiança, representando-as em certas reuniões e defendendo as suas posições em certas situações, por isso viram-me como uma aliada preciosa. Não foi por pena, mas foi por mérito. E depois comecei eu a puxar pela geração seguinte.
Digo isto porque muitas vezes se olha para grupos de mulheres que se juntam como lobbys anti-homens, quando se tratam apenas de grupos de mulheres que se entreajudam e puxam pelas gerações seguintes como fazem os homens desde sempre, apenas não lhes dão um nome.
As mulheres raramente se querem associar a pessoas que não sejam merecedoras da sua confiança e também da sua reputação, pois bem sabem o quanto lhes custou chegar onde chegaram, daí talvez incomodarem alguns.
Ao longo da vida mantive essas mentoras e fui adicionando novas, embora a escolha seja cada vez mais restrita quando se chega perto do topo. Essas mulheres mostraram-me o que havia para fazer nos seus postos, mas acima de tudo, como se fazia gestão e negócios, de forma diferente.
Foi também a essas mulheres que recorri quando fiquei grávida, e lhes pedi conselho sobre como lidar com a gravidez e depois mais tarde ser mãe solo e continuar com a minha carreira. Foram honestas e partilharam escolhas duras, algumas de que se arrependeram, para eu ser o mais realista possível.
Isto para mim é importante, porque muitas vezes partilhamos histórias de lideres de topo sem mencionar as dificuldades, os sacrifícios, as escolhas desafiantes que foram feitas pelo caminho, para que os que vêm a seguir saibam escolher com todas as informações na mão.
Muitas vezes me perguntam se foram só mulheres que me influenciaram. Claro que não! Tive, e tenho, homens maravilhosos que foram meus chefes, lideres e alguns que ficaram como mentores, e também tive algumas mulheres managers que deixaram muito a desejar à causa feminina e da decência em geral.
Mas é preciso dizer que esses homens tinham energias e características equilibradas entre o masculino e o feminino, por isso são bons exemplos de liderança humana. Quanto à razão pela qual falo mais de mulheres e de liderança no feminino, é porque ainda não temos equilíbrio nem nas empresas nem na sociedade.
Os postos de progressão de carreira são, muitas vezes, decididos antes de serem publicados formalmente, por isso é importante sermos conhecidos para, pelo menos, nos avisarem o que está para vir.
O que mudou na sua atitude com o que aprendeu com essas mulheres?
Primeiro, percebi que a super mulher era sobretudo uma mulher. Ou seja, essas mulheres não tinham super poderes, mas sim muita garra e muita ambição. Ambição foi sempre uma característica mal vista nas mulheres, mas com elas aprendi a ter orgulho de dizer que tambem tinha ambição.
Aprendi um estilo de liderança diferente, até porque mesmo entre elas, tinham personalidades muito diferentes, umas mais extrovertidas, umas mais tímidas, mas todas determinadas.
Já falei acima de algumas das mulheres que desde cedo me influenciaram: com umas aprendi que aquilo que eram os meus defeitos podiam tornar-se qualidades, com outras aprendi que tinha de escolher as minhas batalhas em vez de tentar mudar o mundo dos negócios todo de uma só vez. Com outras, como a Jacqueline Ford ou a Anne Stevens, aprendi que falar mais calmamente desarma mais do que eu pensava (ainda não sei fazer!), com outras, como a Tracey Upton, aprendi o que era ser assertiva sem ser agressiva e a usar o sentido de humor para suavizar tensões.
Hoje, com a minha coach, Ronnie Clifford, estou a aprender a ouvir ao terceiro nível, a ver os outros como eles são e não como acho que deveriam ou quero que sejam, o que é relevante a nível sénior, e porque achava eu que todos os meus pares seriam colaborativos quando muitas vezes vêm quem é nova e com ideias diferentes como uma ameaça. E com a minha mentora atual, a Eva D´Onofroio, estou a aprender a arte da estratégia e da sabedoria.
É uma aprendizagem constante e para a vida.
Sem elas, acho que me teria ficado, como muitas mulheres ficam, por postos mais juniores, mais rotineiros e por conseguinte também a ganhar menos dinheiro. Os postos de progressão de carreira são muitas vezes decididos antes de serem publicados formalmente, por isso é importante sermos conhecidos para, pelo menos, nos avisarem o que está para vir. Por isso o network em geral é muito importante, e o das mulheres ajuda muito quando muitos postos ainda são dirigidos a grupos informais de colegas masculinos, não necessariamente para excluir as mulheres, mas porque os homens tendem a ajudarem-se entre pares.
A tecnologia é uma área em que [as mulheres] por serem diferentes podem fazer disso a sua força motor. É uma indústria em crescimento constante, que abrange todos os mercados, em que se ganha acima da média, em que se pode ter uma variedade de postos, e em que se pode contribuir para uma sociedade mais justa
Toda a sua carreira tem sido feita na tecnologia. O que diz às mulheres que acham que essa é uma área muito masculina onde não conseguirão progredir?
Acho que primeiro temos de perguntar às mulheres se acham que a própria palavra tecnologia é logo associada a masculino, porque a maior parte das vezes é isso que imaginam.
Nesse caso, começo por dizer que se essas mulheres usam carros, telemóveis, televisão, computadores, tablets, MBWay, aplicações bancárias, sites de viagens e redes sociais, então já estão mais que inseridas na tecnologia.
Depois lembro-lhes que na vida temos de ser corajosas e honrar as nossas antepassadas: desde as que lutaram pelos nossos direitos de voto, de trabalhar fora de casa, estudar e afins por isso a luta continua, e que se baixarem os braços agora, vamos voltar para trás e as gerações mais jovens não nos perdoarão.
Finalmente, explico-lhes que a tecnologia é uma área em que por serem diferentes podem fazer disso a sua força motor, que é uma indústria em crescimento constante, que abrange todos os mercados, em que se ganha acima da média, pode-se ter uma variedade de postos, e finalmente, podem contribuir para uma sociedade mais justa fazendo parte dos influencers da tecnologia!
Em relação à progressão de carreira, é talvez uma das indústrias com mais escolha, e com cada vez mais mulheres tanto em número como em senioridade, e precisamos de mais ainda!
Tendo trabalhado em 7 países como compara a presença das mulheres em funções de liderança em cada um deles?
Dos países com que já trabalhei, apesar de ter adorado tantos aspetos do Japão, em termos de igualdade de género é o pior, com apenas 3% de mulheres nos boards pois tem uma cultura muito tradicional, e o melhor foi a Noruega com 35.5%. A Noruega impôs quotas de 40%, em 2003, a todas as empresas cotadas na bolsa de valores, e se não fizessem essas mudanças em dois anos, teriam de sair da bolsa.
Muitos apresentaram os argumentos clássicos que deveriam ser meritocracias e que não havia mulheres suficientes para os boards, mas não só foi provado que eram argumentos pouco científicos, como ainda se demonstrou que os critérios de seleção deviam ser mudados porque, por exemplo, o grau de qualificação não era considerado na seleção e, no entanto, as mulheres eram mais qualificadas do que os homens!
O que eu vi e vivi na Noruega logo no início da carreira passou a ser o meu referencial: igualdade entre homens e mulheres tanto nas lideranças como na sexualidade, na parentalidade e nos direitos, em geral. Talvez por isso me custasse tanto a perceber o resto do mundo a partir daí.
Depois temos de ver o aspeto histórico e cultural. Nos países mais neoliberais como os EUA ou o Reino Unido, onde o Estado é pouco presente, a sociedade civil é mais organizada para compensar. Isso fez com que nesses países existissem muitos mais grupos organizados de pessoas sub-representadas que agem como lobbys sociais dentro e fora das organizações. E isso faz com que sejam obrigados a medir os problemas para depois medir o progresso das soluções. Assim, no Reino Unido existem muitos grupos de network de mulheres a exigirem mudança e a organizarem-se entre elas.
Não cheguei a trabalhar nos EUA, mas do que eu vi ao viver lá e a trabalhar em empresas americanas, é que a mulher americana é mais extrovertida que a europeia, e reivindica mais os seus direitos, através da associação com outras. Existem muitos relatórios e estudos das disparidades de género nas próprias empresas. Mas em termos de direitos como mães, por exemplo, ou mesmo os direitos básicos das mulheres, estão, a meu ver, bem aquém das europeias, em grande parte por causa da cultura ainda puritana.
Os últimos números mostram que a Europa, por exemplo, continua longe dos 40% de paridade mínima desejada nos vários níveis de decisão. A questão é complexa, está enraizada na sociedade e tem custos para as empresas e para a sociedade que, no caso de Portugal, só agora começam a ser contabilizados. Nesta Europa continental, da quai Portugal faz parte, espera-se muito mais do Estado, e por isso, tirando os sindicatos que lutam pelos direitos dos trabalhadores normalmente em condições mais precárias e, sobretudo, no setor público, quase não existem representantes dos subgrupos, e quando existem são muitas vezes ignorados.
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, destacou que “todas as pesquisas e estudos económicos mostram que as empresas que adotam a diversidade são mais bem-sucedidas”. “Isto é verdade nos negócios, na política e na sociedade como um todo.” Porém, acrescentou que “estamos a fazer progressos, mas não suficientemente rápidos, não em toda a UE e nem de perto o suficiente. Portanto, fica claro que precisamos de fazer muito mais. “Quando a mudança não acontece naturalmente, é necessária uma ação regulatória. Os números falam por si. A legislação funciona”, disse, abrindo a porta a uma maior pressão legislativa para forçar a paridade no espaço europeu
A prova de que a legislação funciona é a França em que as quotas foram impostas em 2016, e foram atingidas em 2020, e agora 40% dos boards têm mulheres. A mulher francesa é um excelente exemplo de força de personalidade, de opiniões marcadas, liberada sexualmente, e ao mesmo tempo uma mulher que sabe conciliar essas características com o ser mãe de família e ser feminina. Talvez por isso seja uma das mulheres com quem mais me identifico.
O Reino Unido vem logo a seguir à França, agora também com 40% de mulheres nos boards das empresas cotadas em bolsa e 31% nas privadas, e isto apesar de ser voluntário. Penso que a questão da reputação das empresas e a atração de talento tenha tido um grande impacto. O Reino Unido tem também uma história com grandes mulheres líderes, desde rainhas a primeiras ministras, passando pelas sufragetes. A mulher inglesa, apesar de ser tradicional na maneira como vê o casamento e a família, é ao mesmo tempo uma mulher que tem muita ambição, gosta de trabalhar, e gosta de se divertir sozinha ou acompanhada. Isso aprendi com elas.
A Africa do Sul também tem um modelo e uma constituição socialmente muito interessante! Graças à nova constituição de 1996, e ao modelo de gestão do Black Economic Empowerment (BEE) abriu as portas aos negros e a todas as mulheres, já que no regime do apartheid eram oficialmente consideradas inferiores aos homens e, portanto, proibidas de muitas funções e cargos. No parlamento, desde 2019, 50% dos deputados e ministros são mulheres.
Nas empresas, as quotas impostas em todas as empresas médias e grandes, fez com que muitas mulheres acedessem a postos de decisão e assim começassem a mudar a cultura empresarial. Já agora, o BEE por exemplo tem um modelo de gestão participativa democrática, já que nas empresas médias e grandes, todos os colaboradores são co-proprietários da empresa (as multinacionais têm uns acordos especiais nestes casos e compensam essa impossibilidade). Conheci e trabalhei com grandes mulheres inspiradoras em postos de liderança.
A posição nos boards das organizações são importantes para todas as mulheres, e todos aqueles que procuram um modelo de liderança diferente do atual, porque lhes dá exemplos que podem querer seguir, e sobretudo oferece uma liderança à sua imagem.
As quotas também obrigam as empresas a focarem-se na ascensão de mulheres a cargos de liderança, tradicionalmente reservados aos homens que pensam e agem duma certa maneira há décadas, obrigando assim a serem mais transparentes sobre carreiras e os postos que devem ocupar para lá chegar.
Já conhece bem a realidade portuguesa?
Em Portugal, os exemplos que temos são poucos, embora bons, apesar de estarmos no meio das estatísticas da União Europeia. O facto das mulheres terem de trabalhar mesmo quando são mães ajuda, por mais estranho e por vezes injusto que pareça, o facto das mulheres não se poderem ausentar muito do emprego por questões económicas, faz com que não sejam tao penalizadas como muitas mulheres doutros países que ficam até 2 anos em casa a tomar conta dos filhos.
O problema em Portugal, segundo o último relatório sobre igualdade e cidadania, é que quanto mais uma mulher é qualificada e mais trabalha na áreas dos serviços e sobe na carreira, menos ganha em relação a um homem na mesma função, e ainda não temos mulheres suficientes em cargos de chefia e boards (35% de mulheres nos boards de empresas que servem uma sociedade que tem 50% de mulheres!)
Todas estas mulheres, no entanto, enfrentam os mesmos desafios: a carga extra de serem mulheres de família, as barreiras visíveis, e sobretudo as invisíveis, porque ainda se parte do princípio que os modelos de gestão atuais, muito masculinos e onde se prezam o crescimento incessante económico e uma estrutura hierárquica, não só estão ultrapassados para as nossas economias e sociedades atuais, como não permitem às mulheres, e a todos os que pensam de forma diferente, poderem brilhar com as suas diferenças.
O que gostaria de ter sabido no início da sua carreira, mas que só descobriu mais tarde?
Que existem regras informais no sector empresarial: desde ter de fazer auto promoção, à importância do network, perceber os jogos de política, influência e poder, saber negociar dentro da empresa, só confiar nos que cumprem promessas e não nos que me dizem o que quero ouvir, exprimir as minhas emoções com palavras, e escolher as minhas batalhas para proteger a minha energia.
Como é que uma mulher ou uma empresa podem chegar até a Women Network da Microsoft em Portugal?
Através do LinkedIn, contactem-nos, a mim ou à minha super co chair, Sandra Mateus. O mais fácil é fazermos parcerias com empresas ou organizações do que apoio a indivíduos.
Leia mais entrevistas com mulheres líderes.