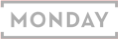Nota: Este texto foi originalmente publicado no livro Memórias de Executivas, de Isabel Canha e Maria Serina, lançado em 2015 pela Redcherry, e não tem qualquer atualização.
Maria da Assunção de Sá da Bandeira nasceu em Lisboa, a 19 de agosto de 1946, filha de Miguel de Sá da Bandeira e de Maria Eugénia de Castro e Almeida, no seio de uma família numerosa e privilegiada. Foi a nona de 15 irmãos e, por isso, considera que a casa dos pais foi uma escola de sobrevivência. Nessa altura, ninguém diria que a jovem educada para casar e ter filhos, mas não uma carreira profissional, haveria de ser pioneira numa profissão emergente: a de consultoria de comunicação, ou relações-públicas, como se chamava nesses tempos primórdios.
Começou por acaso a fazer alguns trabalhos como freelancer, que lhe deram reconhecimento nacional e internacional e que considera que constituíram um mestrado acelerado, feito de experiências, e que colmatou a formação específica na área em que veio a desenvolver a sua carreira, na altura inexistente. Apenas com o seu instinto e criatividade, Assunção concebia ideias que propunha aos clientes numa altura em que tudo ainda era muito cinzento nas áreas do marketing e RP. Foi a primeira a fazer ações como aquela em que a filha Catarina, hoje com 42 anos, e mais um grupo de jovens foram recrutadas para se vestirem de borboletas e distribuirem amostras de perfume pela rua. Conquistou clientes internacionais como a Electricité de France e a Reader’s Digest e rapidamente esta atividade deu corpo a uma empresa, a BA&N, a primeira a operar neste mercado e que acabaria por ser vendida à agência de publicidade Strat numa altura em que todas percebiam a necessidade de oferecer aos seus clientes os serviços de comunicação.
Neste percurso, Assunção diz que nunca se sentiu discriminada por ser mulher. Pelo contrário, afirma que poderá ter tirado algumas vantagens que o capital de empatia e a facilidade de construção de relações interpessoais, que considera características mais femininas, proporcionam.
Recentemente deixou a CV&A, grande empresa de comunicação onde foi administradora durante nove anos, mas a reforma não a levou para casa. Hoje, aos 69 anos, dedica-se a lançar um novo projeto empresarial, preparando-se para, mais uma vez, ser pioneira numa atividade até agora praticamente inexistente.
A infância e a juventude
Como foi a sua educação?
Nasci numa família de 15 filhos e eu sou a do meio, a número nove, de forma que a minha infância foi um pouco uma escola de sobrevivência, apesar de ter crescido num meio em que não passávamos dificuldades, numa família estruturada, era necessário saber resistir e posicionar-se entre a hierarquia de muitos irmãos e os seus códigos de comportamento. Vivíamos perto do Dafundo, numa grande casa, com muita vida, com muita emoção. Parecia uma família italiana, todos falavam muito, e as idades entrecruzavam-se com alguma truculência. O meu pai tinha raízes alentejanas e pertencia a uma família com muitas tradições. A família da minha mãe era muito discreta, mas de grande sensibilidade e cultura. A minha mãe era filha de um Juiz do Supremo e sobrinha de Eugénio de Castro. Em casa vivia-se muito a literatura, a música, as histórias reais que se passavam no mundo. Os meus pais tinham diversos amigos por essa Europa fora, sobretudo franceses e belgas, desde cedo todos falávamos Francês e passávamos férias nesses países e, por sua vez, recebíamos em casa para grandes estadias membros dessas famílias.
Como era a sua mãe?
Era uma pessoa fortíssima, brilhante, muito inteligente. Sem grande formação académica, porque no seu tempo as raparigas limitavam-se ao que lhes ensinavam, muitas vezes em casa, era cultíssima. Nunca trabalhou, mas tanto fazia vestidinhos de lã na máquina de tricotar como traduzia do Francês toda a obra de Henri Troyat e Jean d’Ormesson, entre outros, e obras teológicas para os jesuítas de Braga.
Foi sempre muito “a estrela” da companhia, era exuberante, alegre e sociável.
Depois da morte do meu pai, mais velho 10 anos, retirou-se para o Alentejo. Escreveu as suas memórias sobre a história da família e deixou ao seu conselheiro espiritual reflexões e vivências que viemos a recuperar e que editámos num livro para distribuir por filhos, netos e bisnetos. Foi já depois da sua morte que viemos a perceber que com essa retirada para uma vida quase ascética procurou redimir-se do que ela dizia ser a “vaidade da vida mundana e dos seus êxitos pessoais”. Foi ela quem trouxe para Portugal a organização Children International Summer Village e, nessa qualidade, contrapondo ao ambiente um pouco fechado ao exterior que se vivia ainda no País, mexeu mundos e fundos, chegando a governantes e decisores. Era muito aberta a ideias novas e improváveis.
Por mais paradoxal que pareça, em comparação com o que hoje se passa, com tanto acesso à informação, penso que tínhamos uma visão mais estruturada no que diz respeito à cultura, à história do mundo, às perspectivas para o futuro.
Como se refletiu esse ambiente familiar na sua educação?
Este enquadramento familiar facultou-nos uma grande imaginação e uma abertura ao mundo numa época em que nos fechávamos sobre nós próprios. Por mais paradoxal que pareça, em comparação com o que hoje se passa, com tanto acesso à informação, penso que tínhamos uma visão mais estruturada no que diz respeito à cultura, à história do mundo, às perspectivas para o futuro. Até tarde não houve televisão, passávamos serões a conversar e a ouvir. Falava-se de pessoas e faits divers, mas também de temas concretos e diversos, de acontecimentos passados, história e literatura. Todos os meus irmãos refletem essa característica: o mundo foi e é mais do que este rectangulozinho à beira-mar.
Lia muito?
Era uma casa cheia de livros e nós adorávamos ler. Lembro-me de me fechar na casa de banho a ler para que a mãe não se zangasse por não estar a estudar. Devorávamos livros e líamos muito em Francês. Os meus irmãos mais velhos criaram uma “revista semanal” familiar, “O Mocho”, que relatava o que de importante acontecia na família: o resultado dos estudos; os divertimentos; entrevistas; reflexões; boletim religioso. Ainda tenho alguns exemplares, são obras-primas.
As férias em França também lhe “deram mundo”..
Com 12 anos fiz a minha estreia nas viagens com um mês e meio em França, em casa de uma família amiga dos meus pais. Estive em Paris, depois nas praias da Normandia e em Mâcon (na Borgonha). E nas férias de verão vinham meninos ou meninas estrangeiros para nossa casa. Como éramos muitos, havia sempre este intercâmbio entre as mais diversas idades.
As meninas da família foram educadas para fazer carreira ou para ficar em casa?
As ambições dos pais para as filhas eram mais que casassem e criassem a sua família.
Os rapazes foram educados de forma diferente das raparigas?
Éramos oito rapazes e sete raparigas. Não tenho recordação de que houvesse grande diferença. Ia tudo a eito. Eu nasci depois de quatro rapazes e geralmente era integrada nos programas “masculinos”. Havia, sim, a ideia de que os rapazes tomavam conta das raparigas, por exemplo, quando saíamos. Mas as raparigas não gostavam muito dessa proteção e eles também não, queriam estar “soltos”.
E os trabalhos domésticos?
Nessa altura, devo confessar que nem as camas fazíamos. Havia ainda empregadas internas, de quem muito gostávamos, que foram basilares no nosso crescimento e que faziam parte integrante daquele modelo de casa grande, cheia de gente. Tivemos uma cozinheira, a Josefa, que viveu quase até aos 100 anos. Quando morreu sentimos como se fosse da família. Havia também a Amélia, que nos contava histórias. Uma costureira, que transitou de casa da nossa avó, a Delmira, que ainda fez vestidos para os meus filhos e que dizia que nos “picava” com alfinetes se não estivéssemos quietos nas “provas”. Admito que houvesse mundos agrestes e dificeís, nessa época, mas o nosso era um mundo de muito afectos.
Ainda pensei em ir para hospedeira, que na altura estava muito na moda, fiz o curso, mas não fui selecionada, penso que não levei muito a sério.
Onde estudou?
Comecei no Colégio do Bom Sucesso e era um tanto arrapazada. A meio do segundo ano, com 12 anos, ia a caminho de perder o ano porque não me dedicava minimamente e fui parar ao Colégio das Irmãs de São José de Cluny, em Torres Novas. Os rapazes, dois, andaram por colégios internos também. O choque foi brutal. Todas as noites ia para a cama chorar convulsivamente, mas depois habituei-me e acabei por fazer lá parte do liceu com muito boas notas. Guardei boas recordações. Fiz o 6.º e o 7.º de novo no Bom Sucesso.
Como decidiu o curso que queria?
Não tinha nenhuma ideia feita, estava em “germânicas”, que me pareceu o óbvio pois detestava Matemática, e a Faculdade não era, naquela altura, a opção principal. Trabalhei na Escola Avé Maria como educadora e posteriormente dediquei-me a aperfeiçoar as minhas competências para secretariado e intérprete.
Os irmãos estudaram?
Sim, claro. Relações Internacionais, Arquitetura, Direito.
Pensava trabalhar numa empresa como secretária?
Não pensava nada. Até pensava que não ia trabalhar para lado nenhum.
Como era o ambiente estudantil?
Divertido. Mas fiz o curso sem grande empenho.
Mesmo sem a motivação de no final aplicar os conhecimentos que estava a adquirir?
Estava sempre a pensar noutras coisas. Eu achava sempre que me ia surgir qualquer coisa de extraordinário. Era a “tal” imaginação. Ainda pensei em ir para hospedeira, que na altura estava muito na moda, fiz o curso, mas não fui selecionada, penso que não levei muito a sério.
Em que ano estávamos?
Foi talvez em 1966.
O meu pai, amigo de um dos administradores do Totta, meteu-me (e era mesmo assim, nesses tempos) no banco. Havia ali já uma vertente clara de relações públicas, embora não se chamasse assim. Penso que foi então que me mordeu o bichinho das RP.
A entrada no mercado de trabalho
Qual foi o seu primeiro emprego?
Escola Avé Maria, depois fui visitar uma das minhas irmãs, que vivia em Luanda. As irmãs de São José de Cluny tinham ali um colégio e pediram-me para apoiar as meninas da primeira classe. Tinha ido para ficar 2 meses, e acabei por ficar até junho, até ao final do ano letivo, a substituir uma professora que tinha regressado a Portugal.
Qual era o salário?
Sei que com esse dinheiro comprei um presente para os meus pais, uma caixa em prata. Não me recordo se o presente foi 700 escudos (3,5 euros) ou se esse era o montante do meu primeiro salário.
Depois dessa primeira experiência profissional, como evolui a sua carreira?
Cheguei a Portugal e queria trabalhar. O meu pai, amigo de um dos administradores do Totta, meteu-me (e era mesmo assim, nesses tempos) no banco. Entrei em 1969 ou 1970. Fui para um departamento que se chamava secretaria da administração, constituído por três elementos, dos quais uma diretora muito exigente e perfecionista, que me criou o hábito de querer ser perfeita em tudo o que fazia.
Coordenávamos as atividades inerentes ao conjunto de todos os administradores, passávamos as notas ou as circulares provenientes do Conselho de Administração aos diversos serviços, etc. Havia ali já uma vertente clara de relações públicas, embora não se chamasse assim. Penso que foi então que me mordeu o bichinho das RP. No Natal tratávamos dos presentes que o banco oferecia, se havia convidados para almoçar no banco coordenávamos a refeição. As secretárias dos administradores transmitiam-nos as suas instruções e o nosso gabinete geria e implementava.
Se entrou em 1969 apanhou a fusão do Totta-Aliança com o Lisboa & Açores..
Sim, claro. O Lisboa & Açores era um banco com uma organização já um pouco antiquada. A administração trabalhava toda na mesma sala. Os administradores eram uns verdadeiros dinossauros de experiência e idade, o Dr. António Bustorff, por exemplo, na altura uma referência também como jurista. Por altura da fusão foram chamados uns consultores ingleses para apoiar toda a operação de integração das duas realidades e eu fui destacada para fazer a ponte com os consultores e acompanhar em tudo o que precisassem. Apesar de não ser exercida como atividade autónoma, a “comunicação” neste processo foi crucial. Entendi as potencialidades da comunicação ao vê-los trabalhar. Foi uma boa aprendizagem.
O casamento
Ficou muito tempo no banco?
Acabei por casar com o diretor de contencioso do banco e achámos melhor que eu saísse. Nesta decisão, patente ainda a mentalidade da época: a mulher do diretor não devia trabalhar no mesmo local.
Como é que aconteceu o romance?
O meu marido era uma pessoa que eu via todos os dias, ainda que sem qualquer relação, a não ser “bom dia” e “boa tarde”. Num jantar de Natal na FIL, fui parar à sua mesa. Conversamos e a coisa funcionou. Vim para casa. Entretanto, vieram os filhos e fiquei uns anos sem fazer nada de especial.
Entretanto deu-se a revolução.
Não trabalhava nessa altura. O António, meu marido, foi suspenso do banco, como todos os diretores, mas depois reentrou. Ainda foi ao Brasil ver se havia oportunidades. Nessa altura, estava muito empenhada na política. Tinha encontrado o Alfredo de Sousa, que conhecera do Gabinete de Estudos do Totta e que colaborava na candidatura do General Ramalho Eanes. Ainda me lembro do que me disse: “você devia ir para a candidatura porque aquilo está cheio de socialistas!” Lá fui apresentar-me e foi assim que me envolvi na candidatura do primeiro Presidente da República depois do 25 de Abril. A política era muito vivida por todos os que não saíram do País e que aqui ficaram.
Como foi esse trabalho?
Estava no que se chamava “coordenação da campanha”, chefiada por João Soares Louro, um grande e saudoso amigo. Lidávamos com as câmaras para gerir e coordenar as visitas do candidato, organizava-se os comícios, enfim era o “nervo central” da campanha. Adorei esse trabalho.
Como é que o seu marido via esta sua atividade política?
Nessa altura tinha filhos pequeninos. A Catarina nasceu em 1971 e o Eduardo em 1973. O meu marido achava tudo bem, era a pessoa melhor do mundo. Tinha a retaguarda bem estruturada. Já antes tinha colaborado na abertura de sede do PPD em Algés, porque morava perto. Fui muito entusiasta até à morte de Sá Carneiro. Achava que o País era nosso e que tínhamos de lutar por aquilo em que acreditávamos. Foi um choque a sua morte!
Era filiada?
Fui, mas depois abandonei. Aquele era o líder e a partir daí desencantei-me. O trabalho político terminou aí.
A entrada no mundo da Comunicação
Como é que, então, deu o salto para a comunicação?
Fiz uns trabalhos como freelancer para o Dr. Carlos de Sousa Brito, um advogado que por vezes precisava de apoio extra nos seus projetos, como por exemplo quando assessorou a abertura de um pequeno escritório do Citibank em Portugal. Durante mais de um ano trabalhei com Décio Alves, um brasileiro que veio gerir esse escritório e implementar a sua atividade. Foi um verdadeiro trabalho de RP.
Para essas reuniões [internacionais do Reader’s Digest em Portugal] por vezes eram convidadas “personalidades” internacionais para o fecho dos Meetings. Recordo Helmut Schmidt, o escritor Ken Follet e Giscard d’Estaing – fui comprar sapatos com a Mme Giscard d’Estaing.
Depois veio o Reader’s Digest. Como ganhou esse cliente?
Fui convidada pelo diretor-geral do Reader’s Digest em Portugal para organizar uma reunião internacional. O trabalho correu bem e fiquei cativa para inúmeras organizações em Portugal e em Espanha.
Durante alguns anos o Reader’s Digest organizou em Portugal ou Espanha todas as suas reuniões internacionais. Eram reuniões parcelares consecutivas: participavam os editores de música, de publicações, da revista, diretores de marketing ou financeiros de todo o mundo. Durante vários anos fui meeting coordinator. Ainda por telefone fixo ou telex enviavam informação acerca do número de pessoas, do tema, das diversas necessidades. Eu estruturava o conceito e quando chegavam tudo estava pronto a funcionar. Durante as reuniões, num período que podia ir até aos quinze dias, instalava-me no hotel, geralmente o Estoril Sol. Só vinha a casa de vez em quando, pois começava-se a trabalhar às 8 da manhã e à noite havia ainda a parte social. Durante a reunião fazíamos o debrief das reuniões e elaborávamos os priority points que depois deviam ser transmitidos e postos em prática.
Para essas reuniões por vezes eram convidadas “personalidades” internacionais para o fecho dos Meetings. Recordo Helmut Schmidt, o escritor Ken Follet e Giscard d’Estaing – fui comprar sapatos com a Mme Giscard d’Estaing.
Um americano do RD, que era o meu principal contacto por ser o Diretor Internacional de Marketing da companhia, um homem brilhante e muito divertido, dizia-me que nunca tinha visto tanta capacidade de improvisação como em Portugal e dizia admirar a minha capacidade de fazer as coisas acontecer no meio do caos.
Era assim que a Assunção trabalhava?
Naquela atividade, organização de eventos complexos e sua implementação, por vezes tinha de ser. Eu programava até ao mais pequeno pormenor, mas havia sempre imprevistos, surpresas. Repare, nem sequer havia as tecnologias que há hoje. Um episódio: organizava sempre um jantar de abertura no dia em que todos os participantes chegavam. Numa dessas vezes, tendo tudo estipulado e definido, cheguei ao hotel, reuni com o diretor para verificar todos os detalhes e, ao pedir para ver a sala de jantar, ele responde muito surpreendido: “Jantar?!”, tinha-se esquecido. Eram sete da tarde. Só sei que até com o cozinheiro falei e às oito horas tudo estava pronto, terminando a refeição com uns fantásticos soufflés de chocolate… e ninguém percebeu que uma hora antes nem sala havia disponível.
Na organização de grandes eventos tem de ter-se “golpe de rins”. Quem está a coordenar tem de fazer com que as coisas aconteçam e não se lamentar sobre o que não corre de feição, mas sim corrigir. Logo se verá o que há a corrigir para a próxima.
Ao longo da minha vida profissional assisti a muita aceitação de impossíveis e ouvi respostas como: “Isto aconteceu porque..” e nunca entendi isso. A desculpa do outro nunca foi desculpa para mim.
Lembro-me de que no primeiro trabalho que fiz para o Reader’s Digest, no Sheraton, ainda não conhecia as pessoas. Um participante veio pedir-me se lhe arranjava qualquer coisa que eu não entendi o que era. Em vez de lhe dizer que não tinha percebido nada, repeti e escrevi o som que me pareceu ouvir até descobrir que ele pretendia a magnifying glass! E lá consegui o objecto, sem ninguém perceber que por minutos poderia ter ido buscar uma tesoura.
As pessoas que me conheciam achavam uma excentricidade [ser consultora de comunicação], uma fase passageira. Mas depois, a pouco e pouco, foram percebendo o que fazia.
A criação e a venda da BA&N
Como surgiu a BA&N?
Em conversa com amigas Ana Lopes Alves e Ana Nogueira, daí o nome BA&N (Bandeira, Alves & Nogueira). No fundo, estava sempre a trabalhar sem qualquer estrutura profissional. Trabalhava a partir de casa, sem computadores e telemóveis. Por isso, decidi profissionalizar a atividade que desenvolvia como freelancer. Um irmão arquiteto que tinha um atelier cedeu-nos um gabinete e um telefone a troco de fazermos o seu secretariado.
Lembro-me de me perguntarem o que seria a minha atividade e eu responder: “não sei muito bem”. Não se falava em comunicação. Tentámos definir quais poderiam ser os nossos serviços: em síntese, tudo o que as empresas não tivessem estrutura para implementar.
Como foi recebida essa ideia, de outsourcing, pelo mercado?
Com muita dificuldade. Reunia com pessoas, empresários e não encontrava a mínima sensibilidade para o tema comunicação.
Quando começou a trabalhar na área da comunicação que empresas eram mais apetecíveis, mais admiradas?
Os bancos, as companhias de aviação, as multinacionais, como a Shell, a L’Oréal.
Havia uma grande diferença entre as multinacionais e as empresas portuguesas?
Não, nem por isso, até porque a multinacionais eram maioritariamente geridas por portugueses.
Como era socialmente considerada a sua profissão: consultora de comunicação?
As pessoas que me conheciam achavam uma excentricidade, uma fase passageira. Mas depois, a pouco e pouco, foram percebendo o que fazia.
Qual foi o primeiro cliente da BA&N?
O primeiro projeto que nos deu dinheiro foi uma ideia, mais na área de marketing, que tivemos para a L’Oréal: produzimos aventais plastificados para os cabeleireiros para serem utilizados na aplicação das tintas. Foi o primeiro pagamento que entrou na empresa, comprámos máquinas de escrever eléctricas – uma novidade!
Como cresceu a atividade?
Apanhei uma fase boa, que foi a nossa entrada para a CEE. As agências estrangeiras, que tinham clientes multinacionais pretendiam encontrar parceiros em Portugal, andavam à deriva e eram fatalmente obrigados a bater à nossa porta. Um belga, Pierre Jeandrain, que tinha sido assessor da Boeing, contou-me que, na sua busca por gabinetes de RP em Portugal, lhe apareceu um fornecedor de catering que na sua apresentação se auto denominava RP. A LPM e a Imago davam também os primeiros passos, mas o mercado era incipiente. Com o aumento da atividade mudámos para um open space na Av. Infante Santo.
Depois, por diferentes razões, as duas Anas saíram e fiquei sozinha. Nesta fase já tinha uma boa carteira de clientes, que ia angariando graças a iniciativas que imaginava e propunha. Procurava colaboradores de acordo com os projetos que ia desenvolvendo. Fui sempre muito prudente, nunca entrei em grandes aventuras. Só passado uns tempos é que passamos para o regime de contratos anuais com os clientes e a BA&N ganhou sustentabilidade.
Obviamente que havia concorrência, mas era saudável. Mais saudável do que é hoje: as agências debatiam ideias e, se necessário, ajudavam-se. Reuníamo-nos para trocar impressões.
Como era a relação com esses concorrentes?
Obviamente que havia concorrência, mas era saudável. Mais saudável do que é hoje: as agências debatiam ideias e, se necessário, ajudavam-se. Reuníamo-nos para trocar impressões.
A Comunidade Europeia foi sua cliente.
Implementámos para a CEE uma campanha internacional que visava explicar as “vantagens e desvantagens do mercado único”, com sessões de esclarecimento, dirigidas sobretudo à comunicação social, que identificava todas as alterações pelas quais os mais diferentes sectores teriam que se adaptar. Esta campanha deu-nos imensa projeção e pujança.
Neste projeto tivemos a oportunidade de trabalhar com agências internacionais que estavam em estágios de vida já muito mais adiantados. Aprendemos imenso e fiz grandes amizades.
Tive outro importante cliente internacional, fruto dos contactos estabelecidos: a AIA (Associação dos Produtores de Produtos de Amianto). Foi uma fase em que tive muitos clientes internacionais. Para mim foi um curso feito na prática. As campanhas da Comissão Europeia e outra desenvolvida para a Electricité de France correram particularmente bem, em ambos os casos recebemos um louvor pelos resultados obtidos. Estes dois projetos foram realizados em conjunto com agências de todos os países europeus que constituíam na altura a UE. Sempre me integrei bem no convívio e relacionamento com diferentes culturas e fiz muitos amigos.
Qual a vitória profissional que mais gozo lhe deu / que mais lhe custou alcançar? Se tivesse de eleger um grande feito, qual seria?
A campanha para a Comissão Europeia “Vantagens e Desvantagens do Mercado Único”. E o trabalho para a Electricité de France – Mission Europe”. Tinha de ir a Paris de mês a mês, ou a cada 45 dias, apresentar o trabalho desenvolvido. Nessa altura talvez tudo fosse mais fácil. As instituições não eram tão opacas. Se o assunto fosse pertinente as pessoas eram recebidas, havia diálogo. Hoje em dia um dos grandes problemas é que, frequentemente, não se obtêm respostas, por maior relevância que um assunto possa ter.
Que outros clientes internacionais teve?
Outros, British Airways, OKR – Outokumpu Kopper Resources, Canadair Bombardier, fui ao Canadá visitar as fábricas, New Zeland Kiwi (quando o kiwi começou a surgir no nosso menu).
Sentiu dificuldades em chegar às empresas por ser mulher?
Não.
Foi mais fácil por ser mulher?
Também não.
Não fundei a empresa por aspirar ganhar dinheiro. Sempre sofri de imensos pruridos por retirar grandes benefícios de uma empresa que afinal é o fruto do trabalho de uma equipa.
Chegou a ter quantas pessoas a trabalhar na empresa?
O máximo foram 20 pessoas. Além dos colaboradores permanentes recorria a consultores externos conforme os projetos em carteira, pois entrava em setores complexos e desconhecidos para mim.
Como é que as coisas evoluíram?
Foram evoluindo bem e a empresa tornou-se sólida. Tive um grande desgosto em 1992 quando o meu marido teve um AVC fulminante e enviuvei. Mas por essa altura a empresa estava a crescer, o que me ajudou a enfrentar essa prova com serenidade.
Quais as principais preocupações que então estavam na sua agenda?
Ter de pagar ordenados no fim do mês, captar negócio, ter ideias. Adorava o trabalho, mas lembro-me, particularmente, de um dia, ao chegar a casa, chorar de cansaço.
Passou pelo aperto de não ter dinheiro para pagar os salários?
Houve alguns apertos de tesouraria, é óbvio, mas que tinham que ver com os atrasos nos recebimentos que aconteciam com frequência. Em Portugal paga-se pessimamente. Mas nunca tive grandes aflições.
Foi o cansaço que a levou a, anos mais tarde, vender a empresa?
Em 1999 comecei pensar que o enquadramento, as técnicas de comunicação, tudo tinha mudado. Decidi que estava na altura de começar a fazer um phase out sereno e atenuar a preocupação de ter de facturar para pagar ordenados e mais não sei quantas obrigações. Era uma grande responsabilidade.
Estas empresas exigem muita energia porque não há uma produção fixa, vendemos o que diariamente pensamos e imaginamos, saltando de setor para setor. Apesar de ser uma pessoa criativa, comecei a sentir o desgaste de não haver tempo para uma pausa.
Por outro lado, eu sempre trabalhei por gosto de trabalhar e a partir de determinada altura tornou-se vital trabalhar porque tinha três filhos em casa e a estudar, essa pressão também foi aliviando.
Não fundei a empresa por aspirar ganhar dinheiro. Sempre sofri de imensos pruridos por retirar grandes benefícios de uma empresa que afinal é o fruto do trabalho de uma equipa.
Enquanto fui a única sócia da BA&N, no final do ano tentava fazer uma distribuição justa dos lucros porque sentia “na pele” que sozinha aqueles resultados não teriam sido possíveis. Assim, nunca estive agarrada à empresa, com o sentimento de que era o meu “mealheiro”. Por isso, quando fui abordada pela Strat, uma agência de publicidade que queria ter a componente de comunicação, foi fácil equacionar vender.
Vendi uma parte, com o acordo de ficar mais três anos na empresa, a fazer a passagem, e no final faríamos o ajuste da quota remanescente.
E como é que correu?
Quando vendi houve um estremecimento na equipa porque a cultura das empresas eram totalmente diferentes. Na minha forma de trabalhar éramos como uma família (riamos e chorávamos em conjunto), no novo sócio faltava a componente humana, que era fulcral. Algumas pessoas saíram e eu perdi aquela ligação visceral que até aí tivera. Estive três anos e ainda fiquei mais dois. E em 2005 saí. Decidi ir para casa e logo ver o que fazia.
Antigamente, como a comunicação não era uma disciplina tão estruturada, havia uma ligação mais íntima entre o cliente e a agência, ia-se falando, analisando, aferindo estratégias. Isso perdeu-se porque hoje em dia há muitos interlocutores.
A experiência na CV&A
E regressou à atividade, na Cunha Vaz.
Estive apenas um mês em casa. O António Cunha Vaz convidou-me para a empresa, trabalhando num regime mais leve. Mas acabou por não acontecer assim porque a CV&A também passou por alterações com a saída de um dos sócios e eu acabei por entrar para a administração. Acompanhei o crescimento e consolidação da CV&A e foi uma experiência de que gostei francamente, de trabalhar com o António e com a equipa.
Em 2010 avisei o António de que me queria reformar. Não porque quisesse deixar de trabalhar, mas porque acredito que é preciso dar espaço aos mais novos e sentia que a realidade também se ia transformando. Fiquei até 2014.
Em que difere a atividade da comunicação nos tempos da BA&N e hoje em dia, enquadrada numa estrutura como a CV&A, por exemplo?
Antigamente, como a comunicação não era uma disciplina tão estruturada, havia uma ligação mais íntima entre o cliente e a agência, ia-se falando, analisando, aferindo estratégias. Isso perdeu-se porque hoje em dia há muitos interlocutores. Nem sempre se lida com a cúpula das empresas e das instituições, antes com os diretores de comunicação e marketing ou mesmo responsáveis de área.
Trabalhava diretamente com os diretores-gerais e os patrões?
Sim, a maior parte das vezes. Tive clientes em que me sentia da “casa”: a Portugália – Companhia de Aviação, a Martini, entre outras.
Hoje pode ser mais confuso, há mais intervenientes, perde-se força e a comunicação vai-se degradando. O consultor deve ser o confessor a quem se passa a boa e a má mensagem. Por outro lado há menos laço afectivo e, por isso, é facílimo romper a relação cliente/agência. Hoje o mercado é também mais competitivo, mais duro.
O que mais mudou?
Não querendo desvalorizar ninguém, penso que alguns profissionais não ganharam ainda a capacidade de apreender de forma abrangente toda uma realidade, por falta de cultura, de experiência de vida, ou mesmo de um determinado perfil de educação. O consultor em comunicação tem de ser uma pessoa completa e entender a especificidade objetiva e subjetiva de cada cliente. Deve saber ouvir mais do que falar. Precisa de bom senso, experiência e diplomacia. É uma atividade muito interessante, mas de uma exigência tremenda.
Acontece também que, por haver mais formas/meios de comunicação, vulgariza-se a distribuição de mensagem. É a história do mail a que já ninguém responde. Hoje a comunicação é mais uma fábrica e menos a boutique de roupa à medida.
Era um setor em crescimento e os salários eram compensadores. Hoje não é tanto assim.
Sempre fui buscar pessoas para complementar as minhas falhas. Era uma orquestra. A minha pretensão nunca foi a de saber tudo, mas sim a de traduzir e conciliar tudo.
Algum dia sentiu que lhe poderiam faltar conhecimentos mais académicos ou que estaria a ficar tecnologicamente desatualizada?
Sempre fui buscar pessoas para complementar as minhas falhas. Era uma orquestra. A minha pretensão nunca foi a de saber tudo, mas sim a de traduzir e conciliar tudo.
Aprendi com a experiência, com a atenção e com o instinto e nenhuma escola substitui essa vivência. Aconteceu-me em reuniões com clientes em que o colaborador que estava comigo falava e debitava teoria e eu apetecia-me dar pontapés por baixo da mesa e dizer: “Agora está calado, ouve”. As pessoas têm muita necessidade de mostrar que têm conhecimento imediato de situações cuja essência não entendem. Têm horror ao silêncio. Toda a vida ouvi mais do que falei e só comentava quando tinha a certeza do que estava a dizer. Nunca hesitei em dizer: deixe-me pensar, voltamos a falar. Hoje em dia avança-se com clichés que nem sempre se adaptam à situação.
A liderança feminina
A sua equipa era muito feminina?
Sim, tínhamos mais força feminina, porque uma trazia outra, foi acontecendo. Houve uma altura em que tínhamos só um homem, e ele brincava com isso, quando o chamava para sairmos para reunião ele dizia: “Espere aí que vou ali pôr um bocadinho de rímmel”. Talvez houvesse mais mulheres na comunicação. Essa tendência alterou-se. A comunicação financeira começou a evoluir e a atividade a afirmar-se. Hoje há muita gente licenciada em Economia, Gestão e Direito nas agências, o que alargou o espectro do recrutamento.
Nunca tive dificuldade em trabalhar entre mulheres, ainda que ache que, com algumas exceções, quando atingem um determinado patamar profissional, tornam-se um pouco maçadoras. Perdem naturalidade e diluem-se as “boas características” do seu género.
Por que razão acha que isso acontece?
Se calhar sentem necessidade de afirmação e, por isso, agem como homens. Há ali um mimetismo que acaba por sair mal. Pode-se gerir com firmeza e manter as características mais femininas, mais suaves, mais doces e tolerantes. Eu acho que aplicar esta faceta feminina ao trabalho me ajudou e não o contrário.
Na sua atividade profissional alguma vez se sentiu discriminada?
Não, nunca. Se calhar é um complexo, isso da descriminação!? Acho que até tive vantagens em ser mulher.
Quais?
Talvez o capital de empatia. A criação de relação pode ser mais fácil para as mulheres.
Mas a verdade é que há poucas mulheres em cargos de topo. Da sua experiência e conhecimento, por que acha que isto acontece?
Em Portugal pode ser por uma razão cultural. Se calhar é a forma como a progressão é decidida nas grandes empresas. Maioritariamente são homens e escolhem-se uns aos outros!?
Por que não há mais mulheres proprietárias ou a liderar empresas de comunicação?
Nunca pensei muito nisso. No meu caso resultou de uma questão de persistência e de acreditar. Não copiei a ideia, não sabia que existia uma disciplina de comunicação, descobri agências estrangeiras com quem me fui identificando, mas já com a BA&N a funcionar. Agora, lutei contra ventos e marés.
A imposição de quotas seria uma forma de resolver esta questão?
Tem de ser feito naturalmente. As mulheres têm de se impor e de ir fazendo o seu caminho, não desistindo e muito menos barafustando.
Alguma vez foi alvo de assédio sexual?
Não, nunca.
Entretenho-me imenso sozinha. Continuo a ler bastante. Não passo num centro comercial sem entrar numa livraria. Ouço música. Estou com a família e amigos. O meu conceito de boas férias é isolar-me num sitio bonito e ficar por ali.
Sentiu dificuldades em conciliar a carreira e a família?
Não, porque tinha uma boa retaguarda em casa e era doentiamente organizada.
Sentia culpa por dedicar menos tempo à família porque estava assoberbada com trabalho, tinha prazos para cumprir ou tinha de viajar?
Conciliava facilmente o trabalho e a família. Fora do trabalho, a minha vida era a casa. Houve uma altura em que viajei bastante e detestava. Eu “não preciso” de viajar, basta-me um bom livro. Ia muito a Inglaterra quando trabalhámos com a British Airways. Numa ocasião cheguei ao aeroporto de Londres às onze da noite, estava a chover, quem estava para me ir buscar não apareceu. O que estou aqui a fazer? Foi uma sensação de solidão horrível.
Teve de deixar algo importante para trás para ter o percurso profissional que teve?
Não.
Nem mesmo o seu lazer… O que gosta de fazer nos tempos livres?
Entretenho-me imenso sozinha. Continuo a ler bastante. Não passo num centro comercial sem entrar numa livraria. Ouço música. Estou com a família e amigos. O meu conceito de boas férias é isolar-me num sitio bonito e ficar por ali.
Que livro a marcou de forma especial?
Agora tenho andado metida em tudo o que é biografias e narrativas históricas. Os últimos livros que me entusiasmaram foram A Herança de D. Carlos, de António Cândido Franco, e O Assassinato do Arquiduque, de Greg King e Sue Woolmans. Este último debruça-se sobre todo o período que levou à I Guerra Mundial e que culminou com o assassinato do arquiduque Francisco Fernando e da sua mulher. É terrível ver que a História se repete e que o Homem não aprende com os erros e não evolui para um “ser novo”. Mas leio tudo o que consigo encontrar que me faça entender como chegámos aqui!
Há um escritor, Rainer Maria Rilke, que descobri muito nova e do qual tenho toda a obra, cujos livros me acompanham sempre e com quem me identifico no seu terror pelo vulgar, o estabelecido, a ironia fácil… Afirmava ele: “a ironia não desce às regiões profundas da vida”.
Algum episódio lhe deixou o sentimento de que para ter sucesso tinha de valer mais do que os homens?
Não, sempre tive a preocupação de, em qualquer circunstância, apresentar um resultado melhor do que aquele que me era solicitado. Sempre me senti profundamente mulher.
Achava que outras mulheres, no topo das empresas clientes, lhe podiam dificultar mais a vida do que os homens?
Talvez sim. Não sei se tem que ver com essa faceta estranha, que já referi, de a mulher ter “complexo” de ser mulher.
O que produz esse complexo?
Uma atitude um pouco mais agreste.
Não há solidariedade entre as mulheres?
Nem sempre.
A liderança tem que ver com a capacidade de conciliar realidades diferentes e daí levar um conjunto de pessoas a alcançar um objectivo comum. Não é necessário uma atitude agressiva. Não é falar alto e debitar instruções. Às vezes é preciso saber calar e só falar passado algum tempo.
Pensa que a liderança se pode aprender?
Não, de forma alguma, é instinto e natureza própria. A liderança tem que ver com a capacidade de conciliar realidades diferentes e daí levar um conjunto de pessoas a alcançar um objectivo comum. Não é necessário uma atitude agressiva. Não é falar alto e debitar instruções. Às vezes é preciso saber calar e só falar passado algum tempo.
O sexto sentido, a intuição, é uma característica da sua liderança?
Sim, penso que sim. Em variadas situações entrei num grupo de forma muito discreta e acabei a liderar. Ao longo da vida tenho visto realizarem-se factos que detetei como possíveis nos primeiros segundos de observação. Às vezes o tom de voz no início de um telefonema permite-me perceber o que lá vem.
Como mais caracterizaria o seu estilo de liderança?
Bem subtil, mas firme.
As mulheres são líderes diferentes dos homens?
Talvez. Reconheciam-me uma atitude um pouco maternal, de proteção, de entendimento dos problemas, de mediação.
O que mudou como líder ao longo da usa vida profissional, graças a aprendizagens que foi fazendo?
Uma coisa que me fez pensar foi quando uma excelente colaboradora me disse: “a Assunção nunca está satisfeita com o que fazemos”. Por vezes, quando vinham contentes com o resultado de um trabalho eu sugeria que podiam ainda ter feito mais. No fundo tentava subir a fasquia. Mas essa observação, ajudou-me, pois levou-me a ter a preocupação de evidenciar mais o que de facto tinha sido um bom desempenho.
O que mais melhorou em si?
A paciência. Hoje em dia sou mais paciente na adversidade e mais impaciente com a falta de carácter. A vida é dura, tem muitos problemas e adversidades, mas a felicidade, para nós e para os outros, depende do grau de sentido de responsabilidade de cada um.
Um povo infeliz resulta da falta de exigência pessoal de um conjunto de indivíduos.
Enganou-se muitas vezes a recrutar pessoas?
Não. Na maioria das vezes acho que sempre funcionou o tal instinto. Tanto na BA&N como na CV&A, julgo que sempre identifiquei nos primeiros minutos os bons e os menos bons elementos.
Que conselho daria a uma jovem gestora a começar na área da comunicação?
Estar muito atenta ao enquadramento, não se contentar com a mediocridade, aferir tudo o que fizer com outras opiniões, colocar objectivos temporais e concretizá-los. Saber ouvir.
[A minha máxima de vida é] “Aprender até morrer”. Um pouco aquela ideia: Só sei que nada sei!
O nascimento da BAC
Está a lançar a BAC – Speakers Bureau, Lda. Em que consiste este novo projeto empresarial?
É uma atividade que lá fora está completamente profissionalizada e em Portugal não, e por isso poderá existir uma oportunidade. É uma agência de oradores. A agência aconselha sobre o melhor orador para determinado tipo de evento. Gere a sua contratação, apoia o orador, se necessário, na preparação da sua intervenção. Também temos capacidade de propor o melhor programa científico ou técnico sobre os mais diferentes temas.
Temos como objectivo criar parcerias com agências estrangeiras e agenciar uma lista de oradores portugueses para eventos em Portugal ou lá fora.
Mais uma vez, vai desbravar o mercado.
Sim, a BAC – Speakers Bureau procura profissionalizar o mercado das conferências e palestras. Não estou à espera que seja “pera doce”. Em Portugal os conferencistas são convidados por “conhecimentos” a maior parte das vezes não são pagos, não se preparam, rejeitam participar e ficam alheios ao objetivo da conferência em si.
Muitas vezes um evento desses não é mais do que uma “feira de vaidades” e não uma oportunidade de alargar conhecimento. Elaboramos também biografias profissionais.
Qual a sua visão para este negócio no futuro?
Que os conferencistas venham a entender a importância do seu papel e que se empenhem em boas prestações. Que haja reconhecidos conferencistas portugueses nas grandes conferências internacionais. Que as conferências em Portugal sejam um evento verdadeiramente interessante.
Como vai esta nova atividade?
Devagarinho, mas irá. De novo estou a lidar com a usual resistência a novos hábitos e procedimentos. Enquanto em qualquer outro país uma qualquer personalidade, englobando desde ex-presidentes ou primieros-ministros a Prémios Nobel, cientistas e economistas, se inscreve nos Speakers Bureau, aqui prefere-se, na maior parte dos casos, ser abordados pelo amigo do amigo, condescendendo a repetir uma qualquer apresentação como se fosse um enorme favor. Mas as coisas vão mudar, entramos em novos tempos, o mérito e o saber são escrutinados e mais dificilmente se reúne uma audiência para ouvir o que já todos sabem.
Qual a sua máxima de vida ou de gestão?
“Aprender até morrer”. Um pouco aquela ideia: Só sei que nada sei!
Currículo abreviado de Assunção Sá da Bandeira
1946 Nasce em Lisboa no seio de uma família de 15 irmãos
1966 Frequenta Fililogia Germânica
1966 Dá aulas na Escola Avé Maria e mais tarde em Luanda
1969 Entra no Banco Totta & Açores como secretária do conselho de administração
1973 Torna-se consultora de comunicação de várias entidades internacionais com negócios em Portugal
1977 É convidada para coordenadora dos encontros internacionais do Reader’s Digest
1987 Funda a BA&N, empresa pioneira no setor da comunicação
2005 Integra a equipa da CV&A e torna-se administradora
2014 Retira-se para preparar um projeto próprio, a BAC – Speakers Bureau