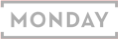Texto de Paula Rios, jurista e profissional de seguros
Acabei de ler “Inês de Castro”, de Isabel Stilwell. Mais uma vez, uma leitura fascinante, um livro difícil de pousar! Sou suspeita – tenho todos os seus livros, de todos gostei e com todos aprendi imenso sobre História de Portugal, ainda que sejam ficcionados. Mas muitos factos são verdadeiros, e nunca ninguém tinha escrito assim sobre as nossas rainhas, e também sobre um rei – D. Manuel II. E a Duquesa Isabel de Borgonha, que não foi rainha de Portugal, mas foi princesa.
Além das magníficas descrições, quer das cortes de Portugal e Castela, quer dos castelos e lugares, do que mais gostei foi da personalidade desta Inês. Tendo encomendado o livro em pré-venda, veio com dedicatória da autora, que dizia o seguinte: “Espero que goste desta minha Inês”. Pois gostei, e muito. Ainda recentemente tinha lido mais um livro sobre os amores de Pedro e Inês, curiosamente escrito por um autor romeno que veio a Portugal e se encantou com a história, e achei-o muito bonito e romântico, mas este é diferente. Não é a história de um amor, mas a história da protagonista desse amor, e a Inês de Isabel Stilwell é uma jovem, e depois uma mulher, com uma grande força e carisma, ao passo que Pedro – o seu Pedro – surge mais humano do que é habitual. Desde logo, é gago – algo que eu ignorava – o que o torna mais vulnerável. Depois, mostra-nos o temor reverencial que sentia em relação ao pai, o rei D. Afonso IV, e que só por si explica o facto de nunca o ter enfrentado relativamente ao seu casamento oculto com Inês, assim como o tê-lo subestimado, nunca acreditando que pudesse fazer algum mal à sua amada. E de tal forma o livro é sobre Inês, que a parte da sua história habitualmente mais tratada, aquela onde “depois de morta foi rainha”, com todos os pormenores mórbidos da coroação e beija-mão do cadáver, é praticamente omitida, sendo apenas objecto duma referência no epílogo. Afinal, para quê repetir o que todos já sabem, quando se pode contar episódios menos conhecidos? Com imaginação e factos reais, de mãos dadas, Isabel Stilwell escreve aquela que é, na minha opinião, a grande história de Inês de Castro. Só por isso, valeu a pena ler cada página deste livro.
Mas não só. O tempo de Inês, há cerca de 700 anos, teve algo muito semelhante ao que vivemos, e isso é muito evidente no livro: foi também um tempo de pestilência, como se dizia na época. Peste, é a palavra mais conhecida, a peste negra, que assolou a Europa por várias vezes ao longo dos séculos, e que deixava atrás de si um rasto de morte e destruição. E essa situação é magistralmente descrita, quando a dada altura Pedro justifica a Inês porque não veio vê-la. Refere que não podia abandonar a cidade onde se encontrava, porque o rei havia ordenado que as suas portas fossem encerradas. Mais – fora proibida a circulação dos camponeses, que não podiam sair para tratar dos campos, ou entrar, para vender os seus produtos. E, se alguém se atrevesse a desrespeitar as regras, os soldados tinham ordens para disparar sobre os desobedientes, para que não trouxessem a pestilência para dentro das cidades. E esta regra aplicava-se a todas as povoações onde surgissem casos de peste – bastava um! O povo, apavorado, fazia procissões para suplicar protecção aos santos contra esta terrível praga, e os reis consultavam astrólogos para tentar perceber a razão de tamanho flagelo.
Parece familiar? Pois sim. Também vivemos um terrível tempo de pestilência (hoje chamamos-lhe Covid 19, mais as numerosas e muito gregas designações das variantes), em que as cidades se fecharam (jamais esquecerei a terrível imagem de uma Lisboa vazia e silenciosa, no primeiro confinamento, em que descia a Av. Fontes Pereira de Melo sem ver um único carro, uma única pessoa); os países encerraram e encerram fronteiras, muitas pessoas foram proibidas de trabalhar e os governantes se multiplicam em audições, não de astrólogos e videntes, mas de cientistas e especialistas em saúde, que os ajudem a saber que rumo tomar. Afinal, estamos no séc. XXI, e até conseguimos desenvolver em tempo recorde uma vacina contra esta peste, sorte que os nossos antepassados não tiveram – apesar de a vacina, afinal, não ser tão eficaz quanto de início sonhávamos.
Nesse tempo, também havia as antepassadas das actuais máscaras; usavam-se panos, mas, sobretudo, umas assustadoras máscaras com um longo bico, no interior das quais se colocavam ervas que, acreditava-se, serviam de protecção contra a infecção. E, a propósito de máscaras, ou elas não são tão más como parecem, ou já estamos mesmo completamente habituados. Há dias, antes de um concerto no Campo Pequeno, comentava com o meu grupo de amigos que não sabia como é que ia cantar com a máscara, todas aquelas músicas maravilhosas que acompanham as nossas vidas desde que, no Outono de 1980, saiu o Long Play de estreia de Rui Veloso, Ar de Rock, com o inesquecível e irreverente “Chico Fininho”. Mas não tinha que me preocupar. Rui Veloso esteve imbatível; a alegria era tanta, o entusiasmo maior, as músicas tão familiares e as letras tão presentes ao fim de todos estes anos, que cantei, cantámos, com toda a força dos nossos pulmões, e posso garantir-vos que nem me lembrei da máscara! Só no fim, quando cansados de tanto aplaudir, mas felizes, a alma cheia com tanta e tão boa música, saímos para a rua (como na canção…) e arrancámos as máscaras para uma lufada de ar fresco, é que percebemos como nos tínhamos esquecido delas.
Em tempos de pestilência, valha-nos que ainda podemos ler um bom livro, ouvir boa música… e até cantar!
Leia mais artigos de Paula Rios aqui.