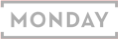Joana Rocha Scaff é managing director e head of Europe Private Equity na Neuberger Berman, onde está há mais de 14 anos. Licenciou-se em Gestão e Administração de Empresas na Universidade Católica e iniciou a carreira na banca de investimento, tendo coberto os setores de telecomunicações, media e serviços de informação. Começou em Portugal no BESI, mas nove meses depois aceitou um convite para participar numa importante operação de fusão e aquisição no Brasil e nunca mais regressou a casa. Assume que aceitar o convite não foi um ato de coragem, mas fruto do seu espírito aventureiro e de alguma ingenuidade, mas que foi um passo determinante na sua carreira. Depois de quase três anos no Brasil, fez um MBA nos Estados Unidos, de seguida entrou no Citigroup Global Markets e dois anos depois mudou para a Lehman Brothers. Estava lá quando o banco colapsou, em 2008, e integrou a equipa de executivos que fez uma proposta de compra da gestora de investimentos do banco, conseguindo resgatá-la dos escombros e fazê-la crescer a bom ritmo na última década.
Desde 2007 que trabalha em private equity e é considerada uma das mulheres mais influentes nesta área na Europa. Desde que assumiu a liderança do mercado europeu na Neuberger Berman, que os resultados da empresa não param de aumentar em volume de fundos geridos e em número de clientes. Pela sua experiência internacional de cerca de duas décadas, Joana Rocha Scaff é Conselheira da Diáspora Portuguesa desde 2018.
Começou a trabalhar no mercado financeiro assim que concluiu a licenciatura?
Formei-me na Universidade Católica, em Gestão e Administração de Empresas, e comecei a trabalhar num banco de investimento. Sempre tive grande interesse pela área financeira, e de certa maneira também aptidão, pois foi claramente a área do curso em que era melhor e que mais me motivava.
O meu primeiro emprego foi em Portugal, mas logo no primeiro ano tive oportunidade de trabalhar num projeto no Brasil. Pensei que iria por dois meses, mas acabei por ficar cerca de três anos. Depois dessa experiência fiz um MBA na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Quando se faz um mestrado nos Estados Unidos temos acesso amplo a oportunidades no país e decidi continuar a minha carreira em banca de investimento em Nova Iorque, a trabalhar no Citigroup – Salomon Smith Barney -, e depois passei para a Lehman Brothers, sempre na área de banca de investimento.
A Lehman Brothers tinha uma política de diversidade e mobilidade francamente boa e foi em 2007 que mudei para o departamento de Private Equity, dentro da área de Investment Management. Uns anos mais tarde fui convidada a ir para a Europa e mudei para Inglaterra há cerca de oito anos, depois de passar 10 anos a estudar e trabalhar em Nova Iorque. Atualmente sou responsável pela área de Private Equity da Europa para a minha empresa. Somos uma empresa privada, detida actualmente por cerca de 550 empregados. Comprámos a empresa à Lehman Brothers em 2009 e desde então somos nós que a gerimos e que a temos feito crescer.
A empresa faz investimentos na maioria para clientes institucionais e gerimos investimentos em vários tipos de ativos. Na área de Private Equity gerimos 80 mil milhões de dólares, cerca de 20% desse montante vem de clientes europeus. Eu sou responsável pelos investimentos de Private Equity na Europa, focados em fundos e co-investimentos, e pela equipa europeia, sediada em Londres.
Se queremos a paridade profissional ou convergir para ela, não precisamos de ter um comportamento imprudente ou precipitado, mas temos que ter uma atitude um pouco mais confiante.
Voltando ao início da sua carreira, o que ponderou antes de aceitar a proposta de ir trabalhar para o Brasil?
Quando iniciei a minha carreira eu definir-me-ia como uma pessoa aventureira, mas não como alguém que gostasse de correr grandes riscos, e no geral, olhando para a maneira como ainda sou, acho que sou relativamente cautelosa, mas sempre aventureira. Nessa altura trabalhava no Banco BESI que ganhou um concurso para participar na privatização do sistema de telecomunicações brasileiro, a Telebras. Era uma operação de cerca de 20 mil milhões de dólares na altura, foi um dos maiores projetos da área de fusões e aquisições daquele ano no mundo inteiro. Convidaram vários analistas seniores da equipa em que estava, mas todos recusaram. Até que chegaram a mim, a mais júnior da equipa e me perguntaram se tinha interesse e disponibilidade para o projeto. Achei que trabalhar no Brasil seria fascinante e na minha ingenuidade, e porque não fiz bem o meu trabalho de casa, acreditei que era possível fazer aquele projeto num mês ou dois. Não existem projetos de M&A de um mês no Brasil… tudo leva mais tempo do que é previsto. Mal cheguei percebi que aquilo não ia durar um mês nem nada parecido! Mas a combinação de ser aventureira e um pouco ingénua ajudou-me muito. Fiz o projeto, que durou uns quatro a cinco meses, e depois havia tantas outras coisas para fazer – em termos de restruturação societária das empresas e outros projetos de consolidação – que me perguntaram se queria fazer outro projeto de três meses. Nessa altura já sabia que nunca seriam apenas três meses, mas a minha noção do tempo mudara e três meses já não era nada. Já tinha feito o primeiro projeto e não me custara muito e foi assim que a minha vida funcionou nos quase três anos seguintes. Ou seja, eu não tive aquele momento de pensar no sacrifício de deixar para trás a família, os amigos e o namorado. Simplesmente, as coisas iam acontecendo em pequenas etapas. Quando olhei para a situação, já tinham passado vários anos, mas nunca tive de tomar a decisão de sair definitivamente ou por um período mais alargado do país. Admito que na verdade, se me tivessem perguntado se queria ir trabalhar durante três anos no Brasil em projetos de telecomunicações, a minha resposta teria sido “não, não quero”. O não ter tido a necessidade de tomar esta decisão foi talvez o que lançou a minha carreira internacional. Não foi uma decisão consciente.
As coisas foram acontecendo.
Procurando retirar uma lição desta experiência e tendo em conta inúmeros estudos sobre a diferença entre homens e mulheres na tomada de risco, que indicam que a propensão para a mulher tomar riscos é menor em muitos casos que a do homem, acho que temos de ser um pouco mais ousadas.
Na área de private equity e venture capital há pouca representação de mulheres; há menos de 10% de empresas de capital de risco fundadas por mulheres e investidas por mulheres também. Temos tendência a ser mais ponderadas, cautelosas, mas se queremos a paridade profissional ou convergir para ela, não precisamos de ter um comportamento imprudente ou precipitado, mas temos que ter uma atitude um pouco mais confiante e, assim como a Executiva está a fazer, tentar encontrar formas de nos apoiarmos umas às outras para ajudar as mulheres a ganhar mais confiança e suporte para arriscar mais. Esta é a grande lição que retiro da minha primeira experiência na carreira internacional. Foi um pouco de aventura e de ingenuidade que me permitiu lançar-me.
Acabei por me distanciar de Portugal de uma maneira não dolorosa, natural. Teria sofrido se tivesse interiorizado que me ia distanciar de todas as minhas raízes durante tanto tempo.
É preciso dar o primeiro passo, porque depois o caminho faz-se caminhando. Não se deve pôr logo o filme todo à frente senão, não avança.
Ainda bem que não vi o filme (risos). Acabei por me distanciar de Portugal de uma maneira não dolorosa, natural. Teria sofrido se tivesse interiorizado que me ia distanciar de todas as minhas raízes durante tanto tempo.
O primeiro risco que tomou foi quase sem se aperceber. Mas os seguintes já não.
Não. Não é verdade. Um dos últimos passos mais recentes e importantes na minha carreira também não foi muito diferente e foi em 2013. Em 2011 vim para a Europa como gestora sénior para originar, executar e gerir co-investimentos diretos em empresas na Europa.
Estou nesta empresa, que pertencia ao universo da Lehman Brothers, desde 2005 e integro a área de private equity desde 2007. Quando a Lehman Brothers quebrou na crise financeira global de 2008 um grupo de gestores da área de investment management uniu-se e fez uma oferta para comprar esta área da Lehman Brothers, que era a Neuberger Berman. Comprámos a empresa e a nossa independência em 2009, e saímos da Lehman Brothers. Foi uma operação interessante, estruturada com um financiamento e pagamentos diferidos, mas coletivamente conseguimos comprar o controlo da empresa, estabilizar a parte de clientes e de ativos que geríamos e crescemos muito desde aí. Já mais que duplicámos a nossa atividade e na área de private equity já mais que quintuplicámos a atividade nos últimos 10 anos, mas foi um projeto bastante intenso e stressante.
Em 2013, menos de dois anos depois de me ter instalado em Londres, assumi um novo cargo sem estar à espera. Durante uma conversa com o chefe global da área de private equity, dei-lhe umas sugestões sobre o negócio e fiz-lhe umas perguntas sobre a direção, a estratégia, o desenvolvimento, a equipa, e a certa altura ele vira-se para mim e diz “It is up to you figure out the strategy as the Head of Europe Private Equity for Neuberger Berman”. Olhei para ele e disse “Excuse me, I did not know I was Head of Europe Private Equity for Neuberger Berman” e ele respondeu-me simplesmente: “Now you do”. E foi assim que me tornei Head of Europe Private Equity da Neuberger Berman. Ele não me perguntou se eu queria aceitar o cargo, ele simplesmente nomeou-me.
Desde então, temos crescido imenso, já mais que quintuplicámos a nossa presença na Europa, não só em volume de negócios mas também em número de clientes e o tamanho da equipa. Quando cheguei em 2011 a nossa presença era insignificante. Mais uma vez, ninguém me apresentou uma proposta. Se o meu chefe me tivesse perguntado se eu queria o cargo, possivelmente teria pensado “Será que quero ficar a construir um negócio, a criar os processos, a recrutar as pessoas, a ser responsável pela equipa em vez de fazer simplesmente os meus projetos de investimento, um trabalho que é tão divertido e muito mais controlado? Eu teria tirado tempo para pensar no assunto e ponderar os pros e os contras, e os contras eram significativos. Não sei se teria aceitado.

Joana Rocha Scaff é uma das 50 pessoas mais influentes em private equity na Europa, em que apenas quatro são mulheres.
Ainda bem que não teve oportunidade para pensar e decidir.
Realmente, olhando para trás, ainda bem que ele não me perguntou. Mais uma vez fui atirada para o barco: Just go and sail it (risos). Tem sido um projeto bastante desafiante, mas muito gratificante porque obviamente temos expandido muito os clientes, temos aumentado os investimentos e claramente não dá para expandir um negócio a longo prazo se não tiver bons retornos e bom serviço. Temos uma grande responsabilidade porque os nossos clientes são institucionais, vários são fundos de pensões ou companhias de seguros de vida, o que significa que cada vez que fazemos um investimento temos de ter a convicção de que é realmente uma boa ideia, de que estamos bem protegidos de forma estrutural e legal, e que os retornos esperados são bons. São milhares de pessoas que estão dependentes da nossa decisão. A certa altura o peso da responsabilidade é até um pouco esmagador.
Procurei role models nos homens. Á minha volta havia vários com vidas normalíssimas, muito inteligentes e trabalhadores, boas pessoas e com uma vida equilibrada e tentei absorver os traços deles sem pensar na diferença de género.
Na sua área não há muitas mulheres e ainda menos quando começou. Quem foram os seus role models?
Não havia praticamente ninguém. Em Nova Iorque, em meados de 2000, não consegui encontrar uma mulher sénior bem sucedida na banca com quem me identificasse. Quando comecei no Citigroup em 2003, não existia nenhuma mulher que encaixasse no que eu procurava. Eu ainda não tinha 30 anos e procurava como role models mulheres que fossem bem sucedidas na carreira mas que não vivessem apenas para o trabalho, que conseguissem ter uma vida profissional e pessoal relativamente equilibrada.
As mulheres em cargos elevados a trabalhar em banca de investimento nessa altura, no geral, prioritizavam o trabalho sobre qualquer coisa na vida, literalmente qualquer outra coisa. Muitas não eram casadas ou se eram, o marido não trabalhava. Não era o que desejava para mim. Então continuei neste processo inútil de tentar encontrar as minhas princesas (risos). Quando mudei do Citigroup para a Lehman Brothers, pensei que o jardim ia ser mais verde ao lado. A Lehman Brothers tinha um programa muito bom de diversidade e mobilidade. Já com a ideia de reter e promover mulheres criaram um programa de mentoria. A mentora que me atribuíram foi a Erin Callan, que era a CFO da Lehman Brothers e que na altura estava constantemente nas páginas do Wall Street Journal. Quando, ao fim de sete tentativas frustradas nos conseguimos finalmente encontrar, percebi imediatamente que não era a pessoa que eu procurava. Era muito bem sucedida na altura mas não tinha vida além do trabalho. De tal forma que quando o banco colapsou ela ficou sem chão e tentou suicidar-se.
Depois desta experiência, tomei uma decisão diferente, procurei role models nos homens. Á minha volta havia vários homens com vidas normalíssimas, muito inteligentes e trabalhadores, boas pessoas, bem formados e com uma vida equilibrada e tentei absorver os traços deles sem pensar na diferença de género. Na verdade, a grande diferença entre nós era a maternidade, e nos Estados Unidos ter três meses de licença de maternidade já era muito generoso, e três meses não são nada na carreira de uma pessoa. Por isso, quando decidi ter o meu primeiro filho tentei não fazer um drama, pensei que todos os homens que trabalhavam comigo, ou muitos deles, tinham filhos, isso era normal e faz parte da nossa vida.
Claro que o regresso ao trabalho exige muita organização para poder conseguir conciliar a parte profissional com a parte pessoal e familiar. É importantíssimo ter disciplina, ter tudo bastante bem organizado, ter suporte e fazer escolhas. Uma coisa de que tenho orgulho, é que depois de ter o meu primeiro filho, várias associadas mais jovens no meu grupo seguiram o exemplo. Hoje, a minha equipa tem 30% de mulheres sénior, quando a média da nossa indústria é de 10 a 15%. Não diria que é equilibrada, mas é o dobro da média.
Eu não tenho problema nenhum em falar nas reuniões e de fazer a minha opinião ser ouvida. Mas em certas situações é preciso alguma resiliência.
Ainda hoje as mulheres que escolhem a área financeira têm dificuldade em fazer carreira?
Na minha empresa não, mas não vou dizer que seja uma caraterística geral da indústria.
Então, deduzo que as suas reuniões sejam sobretudo com homens, mesmo com os seus clientes.
Eu sou uma das poucas mulheres. Saiu recentemente uma lista dos mais influentes na área de private equity na Europa, que tem 50 pessoas e apenas são 4 mulheres. Não é nada, é menos de 10%.
Mas nas reuniões nunca sentiu dificuldades em fazer valer a sua opinião, o seu conhecimento, pelo facto de ser mulher.
Não. Eu não tenho problema nenhum em falar nas reuniões e de fazer a minha opinião ser ouvida (risos). Mas em certas situações é preciso alguma resiliência. Por vezes, podemos pensar que não estamos totalmente encaixadas no grupo, pode ser que não me chamem para jantar ou tomar uma cerveja, mas por outro lado, cada vez que vou a um jantar dão-me um dos melhores lugares da mesa porque sou uma das poucas mulheres que aparece (risos) e as pessoas vão lembrar-se de mim. Há vantagens e desvantagens, mas tento não pensar necessariamente nas desvantagens e sim potenciar as vantagens. Já que me dão este belo lugar, vou conversar com esta pessoa que é interessante e aprender alguma coisa com esta conversa.
Mas também não sente que isso a tenha prejudicado em termos de carreira.
Não. Pelo menos você vai-se lembrar que estive aqui, porque fui a única pessoa que apareceu com um vestido (risos).
Durante a minha vida e carreira fui encontrando pessoas que foram de forma natural e fundamental meus mentores. Acho que não é possível conseguir tudo sozinha, sem se aliar a pessoas-chave.
E continua a procurar os seus role models nos homens, ou atualmente já não os procura?
Atualmente já não procuro tanto role models. Quando se está no início da carreira e a querer progredir, ter essas âncoras é importantíssimo. Hoje já não preciso tanto delas. O que eu gosto mesmo é de tentar encontrar traços e caraterísticas fundamentais que admiro em certo tipo de pessoas, absorvê-las e desenvolver-me com elas e com as lições de vida que muitas vezes partilham. Felizmente, no meu trabalho tenho tido a possibilidade de conhecer pessoas verdadeiramente brilhantes, bem sucedidas e inspiradoras; tento ter as melhores conversas e aprender com elas.
Sente-se um role model?
Sim, em certos aspetos sinto que sim. Pela posição que ocupo, sei que muitas pessoas olham para o que digo, o que faço e como o faço, e que isso pode transmitir-lhes um sinal. Tenho de ter mais cuidado com as minhas próprias reações e a maneira como falo com certas pessoas, porque eles deduzem muito daquilo que eu faço e falo. É uma responsabilidade maior.
E faz mentoria?
Faço.
É uma melhor mentora, certamente, do que a que teve no passado.
Eu não acredito muito em mentores atribuídos e no meu caso não foram eficazes. Mas durante a minha vida e carreira fui encontrando pessoas que foram de forma natural e fundamental meus mentores. Acho que não é possível conseguir tudo sozinha e sem se aliar a pessoas chave. Mentores eficazes, normalmente são encontrados, não são atribuídos. Tem de haver uma identificação e ligação natural entre as pessoas.
Se eu pensar no que me ajudou a desenvolver ao longo da carreira foi ter encontrado, de forma natural, pessoas que serviram como meus mentores. Em todos os casos foram homens porque que na minha área não havia muitas mulheres. Três em particular muito me marcaram e apoiaram: o Luís, um português com quem trabalhei no Brasil; o Gregory, um americano com quem comecei a trabalhar no Citigroup, que depois mudou para a Lehman Brothers e que acabei por seguir; e o terceiro, um americano também, o David, um colega com quem até hoje trabalho na área de private equity.
O que é que eles têm em comum? O serem extremamente inteligentes, bem-sucedidos, esforçados, respeitados nas posições que ocupam e muito seguros, de tal maneira que conseguem apreciar o desenvolvimento e sucesso das outras pessoas sem se sentirem ameaçados. Isso é fundamental, e este era o traço comum que existia entre eles. A minha visão era “vou trabalhar de forma extremamente dedicada e esforçada para estas pessoas, fazer o meu melhor, de maneira a que se estou na equipa deles e faço o meu melhor “they will look good too, they will do better”. E como eles não se sentiam ameaçados pelo sucesso dos outros, tentavam apoiar-me e recompensar-me. Eu conseguia óptimos projetos para trabalhar e quando havia negociações de bónus ou promoção, eles lutavam por mim. Ainda hoje, quando preciso de recursos extra na equipa, imediatamente aparecem os recursos.
Estas foram definitivamente as três pessoas mais influentes na minha carreira, cada uma numa fase distinta, mas fundamental. Por isso considero que encontrar mentores é absolutamente crítico, mas tem de ser a pessoa certa para ajudar o mentee a crescer e a desenvolver-se na sua carreira.
A minha perceção, não sei se é realista, é que Portugal tem muito mais mulheres ativas e executivas, que conseguem conciliar a carreira com a parte familiar do que em vários outros países mais desenvolvidos.
E conseguiu o tal equilíbrio entre vida profissional, familiar e pessoal que procurava no início?
Tenho dois filhos, o mais novo com 4 anos e o mais velho com 9. Tenho conseguido conciliar a vida profissional com a familiar e manter ligações com os amigos. Agora, quais são os desafios? Tem de ser tudo muito bem organizado, e é preciso ter apoio.
E quem tem uma carreira no estrangeiro já se distanciou do núcleo familiar e do núcleo de suporte. Tem de se criar um novo e/ou pagar a pessoas que possam ajudar. Vou ser sincera, sempre tive uma empregada para ajudar com as minhas crianças. Encaro isto como um investimento que tenho de fazer nesta fase da vida. Não vai ser um custo fixo para sempre. Desta forma, esta pessoa ajuda-me a cuidar e a acompanhar os meus filhos e permite-me manter a minha própria carreira e vocação.
As mulheres investem muito na carreira no Reino Unido?
Essa é uma pergunta curiosa. A minha perceção, não sei se é realista, é que Portugal tem muito mais mulheres ativas e executivas, que conseguem conciliar a carreira com a parte familiar do que em vários outros países mais desenvolvidos.
Sinto um dinamismo forte em Portugal e olhando para a minha classe que se formou na Universidade Católica em 1997, as mulheres tinham bastante ambição e a grande maioria delas continua ativa e muitas com posições de grande responsabilidade. Não vejo tanto esse dinamismo em vários outros mercados com que trabalho, nomeadamente em Inglaterra, Alemanha e Suíça. E vejo sobretudo uma diferença marcante no sector financeiro. Não sei explicar se é um fator cultural, mas claramente entre os países desenvolvidos parece-me que Portugal está à frente em termos de mulheres executivas.
Que conselho daria a uma mulher que é desafiada para fazer carreira internacional?
Depende muito do objetivo de cada uma. Mas se realmente a pessoa tem o desejo de ter uma carreira internacional, a primeira coisa que lhe diria é para arriscar, ser aventureira. Se tiver medo, não veja o filme todo (risos), aceite o desafio. Não tem problema se não der certo. Poucas coisas na vida são irreversíveis e a vida não funciona necessariamente em etapas lineares. Se alguém me perguntasse no início da carreira como é que me via a desenvolver a minha carreira nos futuros 10 anos, eu não fazia ideia de como é que iria ser. O que é importante é a pessoa entender que as etapas são modulares e às vezes dá-se um passo em frente, um passo ao lado, ou até um passo atrás, mas o importante é tentar que as várias etapas se vão encaixando para progredir a médio e longo prazo, evitando ter essa visão determinística e possivelmente inibidora a 10 anos, porque ninguém consegue prever o futuro tão distante.