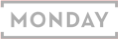Aos 33 anos, com apenas um ano de experiência a gestão da Clínica Lambert, Vera Pires Coelho é atirada para a liderança da Edifer em circunstância particularmente difíceis, pela morte do pai. A terceira de quatro irmãos e uma entre mais de 30 primos, muitos deles homens, foi eleita por ser a única a preencher as dez condições impostas pelo protocolo familiar, em que se incluía a experiência externa às empresas da família. Foram momentos particularmente difíceis. Era uma mulher num mundo de homens, num setor particularmente hostil, a liderar uma grande empresa e, por isso, severamente escrutinada.
Mas as dificuldades foram ultrapassadas, e Vera Pires Coelho levou a empresa familiar a figurar na lista das maiores construtoras portuguesas. A empresa foi das primeiras a perceber a necessidade de diversificar o negócio para outros sectores e outras geografias. Era uma história de sucesso até, nos anos 1990, tentar a fusão com a Engil, para ganhar escala. A operação falhou e as ondas de choque deste fracasso fizeram-se sentir em ambos os grupos, abalando fortemente as suas estruturas.
Em 2011 com o País em bancarota, sobre a Edifer abateu-se a tempestade perfeita: um setor em crise, grandes obras abortadas outras paradas, dificuldades nos recebimentos, salários em atraso. Vivia-se o pior momento dos muitos anos que dedicou à empresa. Asua vida pessoal era sacrificada pelas exigências da profissão, de gerir um grande grupo de empresas. Começava a trabalhar às 8h/8h 30m e terminava às nove ou dez da noite. Marido e filhos esperavam por ela para jantar, pois não abdicava da refeição em família. Hoje diz: “Temos que encontrar onde é que está o ponto de equilíbrio de três vertentes: emocional, familiar e profissional. Sem ele, não somos completas e alguma coisa vai falhar que nos deixa angustiadas ou frustradas.”
Depois de 22 anos à frente da Edifer, um dos quais procurando activamente uma solução para o futuro do grupo, Vera Pires Coelho deixou a construtora nas mãos do fundo Vallis, fundo lançada por Pedro Gonçalves, ex-presidente executivo da Soares da Costa, para recuperar construtoras em dificuldades. “Ao sair, só prova que pôs os interesses da empresa acima do dos acionistas e dos seus. Foi uma atitude de grande coragem e doação à causa empresarial”, afirmou na altura o empresário Jorge Armindo.
Hoje, esta gestora licenciada em Economia e com um MBA, aos 55 anos, é consultora para o desenvolvimento internacional da Vendap e administradora não executiva da José de Mello Saúde.
Quando se licenciou em Economia na Universidade Nova de Lisboa, ambicionava trabalhar na gestão das empresas familiares?
Já ambicionava uma carreira na área da gestão, mas não necessariamente nas empresas da família. O meu pai era empresário [um dos fundadores da construtora Edifer] e a sua atitude, comportamento e postura profissional eram um exemplo para mim. Desde miúda que queria ter a minha carreira, a minha realização profissional e ser independente. Esse era o ponto de partida. Não tinha uma ideia definida acerca de como é que esse objetivo se concretizava. No trajeto, há circunstâncias da vida e coisas que acontecem, boas e más, que nos redirecionam e foi isso que me aconteceu.
O que fazia a sua mãe?
Não trabalhava fora de casa. Em casa trabalhava muito. Tenho que dizer que eu não subestimo as mulheres que não trabalham fora de casa porque vi como é que era com a minha mãe, que educou quatro filhos: dois rapazes e duas raparigas.
A minha mãe sempre nos educou de forma completamente igual [aos irmãos] e com a ambição de sermos financeiramente independentes de um futuro marido.
Que tipo de educação recebeu?
A minha mãe sempre nos educou de forma completamente igual. Tínhamos as mesmas tarefas em casa, o que não era normal na altura. E sempre com a ambição de sermos financeiramente independentes de um futuro marido. Eu era uma miúda muito contestatária e sempre reagi muito mal à ideia da dependência ou da anulação da mulher. Não entendia porque é que não havia igualdade.
Como iniciou a sua carreira profissional?
Quando terminei o curso na Nova, em 1986, comecei a minha atividade profissional no Gabinete dos Estudos Económicos da Seguradora O TRABALHO. Um dos trabalhos que fiz foi o estudo económico para o lançamento da Clínica do Lambert, uma clínica de ortopedia e fisioterapia, da propriedade da seguradora, enquadrada na atividade do ramo de acidentes de trabalho. Apresentei o estudo ao Conselho. Na altura, já era uma miúda cheia de vontade, que trabalhava dia e noite, se fosse preciso, e decidiram que eu ia gerir a clínica. Assim, aos 26 anos de idade, tive o primeiro contacto com a gestão de empresas, como gerente.
Durante três anos fui responsável pela montagem da clínica: a meu cargo tinha as obras, a remodelação do espaço, a compra de equipamentos e a contratação das pessoas. E, depois, fiquei responsável pela gestão da parte não clínica durante um ano, super entusiasmada.
Em 1990, a minha vida mudou. O meu pai morreu, eu estava grávida de seis meses da minha primeira filha e fui confrontada com a mudança para a construção, área com a qual não me identificava.
De onde teve de sair para ingressar na empresa da família.
Em 1990, eu tinha 27 anos e a minha vida mudou. Foi um ano horrível. O meu pai morreu, eu estava grávida de seis meses da minha primeira filha e fui confrontada com a mudança para a construção, área com a qual não me identificava. O meu pai morreu a 10 de junho, eu entrei no dia 1 de outubro, e a minha filha nasceu no dia 8 de outubro. O processo foi muito traumático de todos os pontos de vista, inclusive também a seleção.
Porquê?
O grupo Edifer tinha como acionistas três ramos da família e dois acionistas não familiares. Havia já nessa altura uma grande preocupação dos fundadores em ter um protocolo familiar. Lembro-me de ser estudante, com 18 anos, e a Edifer ter contratado um consultor estrangeiro, especialista em empresas familiares. Nós tínhamos todos que ir às reuniões, perceber o que é que se fazia e o que não se devia fazer, em termos de relacionamento familiar e de sucessão. Esta era uma grande preocupação no grupo precisamente pela estrutura acionista: cinco irmãos, depois quatro porque um vendeu, todos com 19 vírgula qualquer coisa por cento. Por isso, o equilíbrio de forças era difícil de gerir.
Ao abrigo do protocolo familiar, só os membros da família que cumprissem determinados pressupostos poderiam aceder à gestão do grupo. Um dos pressupostos era ter experiência profissional fora do grupo. Houve um processo familiar e o meu nome veio para cima da mesa. Todos os fatores foram ponderados e havia outros candidatos, mas eu ganhei na Assembleia Geral.
Só que havia um irmão mais velho, que sempre acompanhou o meu pai, que trabalhava com ele dentro do grupo. Na minha cabeça, seria ele quem um dia o substituiria e isso também não foi fácil de gerir. Eu sempre privilegiei muito o relacionamento e a estabilidade familiar e não seria capaz, não aceitaria nunca assumir a liderança da empresa, se isso significasse para o meu irmão alguma coisa má. A estabilidade acionista familiar foi uma das condições que eu sempre pus à frente de tudo.
Como é que o seu irmão lidou com isso?
Toda a vida trabalhou lá, e sempre foi impecável. A maior experiência de gestão que eu tive na minha vida foi, depois de assumir a presidência, ao longo dos anos, foi gerir este equilíbrio entre acionistas, que eram familiares. Eu respeito imenso a família, não sou incentivadora do conflito, mas enquanto acionistas estávamos em pé de igualdade. Não era uma situação fácil de gerir, mas, com diálogo, nunca houve situações de rutura.
O primeiro chefe que temos é muito importante, se nos dá motivação, se nos atira para a frente, isso pode dar-nos muita capacidade e segurança.
Teve pena de largar a clínica?
Senti muita pena de largar a clínica, projeto de que estava a gostar muito. Uma das coisas que digo muito aos jovens é que o primeiro emprego é fundamental. Quando arrancamos para o mundo do trabalho, somos inseguros, só sabemos teoria, não sabemos fazer nada. Eu acho que o primeiro chefe que temos é muito importante, se nos dá motivação, se nos atira para a frente, isso pode dar-nos muita capacidade e segurança. Eu tive essa sorte, uma pessoa fantástica, o administrador delegado da seguradora, que me lançava para os desafios.
Regressemos ao momento em que entrou na Edifer, num momento de fragilidade emocional, jovem e mulher. Como é que foi recebida e como se fez respeitar?
Demorou muito tempo. Tem que se ter consciência que qualquer membro da família que entre numa empresa familiar nunca é visto de forma independente. As pessoas olham para nós e pensam: “É porque é filho do acionista” ou “porque é acionista”. Depois ainda existem aqueles que têm receio de nós e dizem “sim” a tudo.
O primeiro impacto foi um certo conflito geracional, entre mim e os meus tios, fundadores da empresa que estavam lá como gestores. Essa foi uma fase muito difícil.
Eu não entrei logo para a empresa de construção, que tinha um presidente; entrei para a holdinge fiquei com a área de novos negócios. Até 1997, ano em que assumi a presidência, foram sete anos muitos conturbados na vida da empresa. Tinha desaparecido a liderança com o falecimento do meu pai, e criou-se um vazio. A Edifer Construções, empresa que representava o maior volume de negócio, mudou de presidente cinco ou seis vezes durante sete anos. Houve muita dificuldade de encaixar um profissional e os ramos acionistas tinham visões diferentes.
A pouco e pouco, fui criando o meu espaço, gerindo muitas dificuldades, porque com a ausência de liderança na maior empresa do grupo, começaram-se a criar “quintas”, a empresa estava muito dividida, com falta de uma visão única, de uma liderança única. Com a sistemática mudança de presidentes, a empresa estava desfocada.
Na área de novos negócios, que projetos desenvolveu?
Estive na génese da compra da Luso Água. Fomos buscar o engenheiro Frederico de Melo Franco, que tinha sido Presidente da EPAL e naquele momento estava disponível, e ficou a liderar este dossiê. Entrámos na Lusoponte. A experiência mais interessante foi a fusão da Tecnasol, do Grupo Somague, no tempo do Diogo Vaz Guedes, com a FGE. Foi uma fusão de sucesso, porque a Tecnsol FGE passou a ser a líder de mercado na área das fundações e a terceira em termos ibéricos. Houve um negócio que eu protagonizei e que correu muito mal: a compra de uma empresa de estradas. Umas coisas correram bem, outras coisas correram mal, mas isso faz parte da vida.
Existiam esquemas menos transparentes dentro da empresa. Tive que implementar um forte programa de mudança.
Em que circunstâncias assumiu a presidência da empresa de construção?
Sentia que a construção não estava bem agarrada, mas eu tinha dificuldade de partilha de opiniões com meus tios, porque eramos de gerações diferentes. Fomos gerindo esta situação com alguma dificuldade, até que fomos buscar o Eng. Viana Baptista para presidente da Edifer. Nessa altura, os acionistas decidiram que eu passaria a ser o elemento de ligação da holding com a construtora. Ele era uma pessoa com uma cabeça fantástica, do ponto de vista estratégico. Em conversa, achámos que fazia sentido a concentração do setor porque o boom de obras de toda a década de 1990 iria acabar. Fizemos uma aproximação à Engil, que era uma empresa de referência do setor. Fizemos contactos com o Eng. Valadas Fernandes, o presidente e acionista da Engil, e montámos um projeto de fusão entre o Grupo Edifer e o Grupo Engil. Os acionistas decidiram que eu iria liderar as negociações, sempre assessorada pelo Viana Baptista.
Foi um projeto muito interessante. Fomos muito longe no desenho da fusão, inclusivamente com a definição de quem ficava e quem não ficava. Nós eramos uma empresa familiar, e era uma oportunidade, até do ponto de vista acionista, muito interessante, mas que implicaria algumas feridas, designadamente porque alguns accionistas e profissionais não ficariam na gestão da nova estrutura.
Na minha opinião, houve aqui um passo em falso, que foi a divulgação em ambos os grupos, antes de se concretizar a fusão, de quem ficava. Houve uma precipitação por parte da Engil, e imediatamente pessoas muito relevantes que não iriam ter papel na nova estrutura criaram alguns bloqueios à operação, que não se fez.
Imagine-se a instabilidade que ficou nas duas empresas. A Engil acabou por ser comprada pela Mota, e nós vivemos uma enorme instabilidade a nível dos quadros diretivos. Foi uma confusão enorme. Nessa altura, os acionistas pedem-me para assumir a presidência da construtora, e eu entro em 1 de Outubro de 1997.
Como viveu os primeiros tempos na empresa de construção?
Entrei no dia 1, a minha filha fazia 7 anos no dia 8 e no dia 3 havia uma comitiva governamental a Angola, na altura do Eng.º António Guterres [primeiro ministro]. Eu disse: “A Edifer não pode estar fora”, e consegui entrar na comitiva. Três dias depois de assumir a presidência, ainda não conhecia bem o setor nem os interlocutores, essa foi a minha estreia.
A construtora, a empresa maior do Grupo, vivia períodos conturbados. A informação dos meios de comunicação social era muito negativa relativamente à Edifer, porque tinha fracassado a fusão. E porque – agora com esta distância já posso dizer algumas coisas – existiam esquemas menos transparentes dentro da empresa. Tive que implementar um forte programa de mudança.
Era muito miúda, tinha 33 anos. Foram tempos muito difíceis: a minha filha tinha sete anos, o meu filho tinha quatro anos e eu praticamente não ia a casa. Trabalhava 15 ou 16 horas por dia porque onde quer que eu mexesse aparecia “porcaria”. Durante aqueles sete anos de muita instabilidade na construtora, estava tudo solto, sem liderança, cada um fazia o que queria, e as pessoas criaram os seus vícios, os seus esquemas.
De outubro de 1997 a março ou abril de 1998, mudei a administração e diversos diretores. Até pessoas que eu recordava como sendo da confiança do meu pai – tive que pôr uma barreira no passado e agir com base naquilo que via na altura. Isto aconteceu numa fase em que o setor da construção ainda estava em expansão e não havia gente disponível no mercado. Até fui ao Brasil buscar gestores. Em 2001 eu tinha a empresa estabilizada.
Senti [dificuldades acrescidas] sobretudo por ser mais nova, mais do que por ser mulher.
Sentiu que lhe colocavam dificuldades acrescidas, pelo facto de ser mulher no mundo da construção, que continua a ser predominantemente masculino?
Durante os sete anos que estive na holding, não tinha muita exposição externa. Quando assumi a presidência, não gostaram. “É mulher”, “é miúda”. Trabalhava com engenheiros muito sabedores, já muito batidos, e eu queria aproveitar esse conhecimento, mas não concordava com as práticas que estavam a ser implementadas, e entrámos em choque. Senti sobretudo por ser mais nova, mais do que por ser mulher.
Foram momentos de grande instabilidade e hostilidade.
Qual a razão de tamanha hostilidade?
Eu tinha contratado a Boston Consulting Group para refletir sobre o posicionamento estratégico e o futuro do grupo porque considerei que devia ouvir alguém de fora do meio. Desde logo, os profissionais não reagiram bem.
Quando começo a olhar para os números, decido fechar delegações. Tínhamos uma
Edifer no Porto com diretor financeiro, com diretor técnico, com diretor de equipamentos, tudo à cópia de Lisboa. Esta estrutura fazia sentido quando se demorava seis horas para ir ao Porto; em 1997, com uma auto estrada, em que se demora duas horas e meia, isto não fazia sentido nenhum. Na delegação sul, em Faro, acontecia a mesma coisa. Mudei esta situação, o que mexeu com os líderes locais, que não aceitaram e tentaram tirar-me o tapete.
Eles sabiam que eu era acionista, mas era miúda. Tinham uma grande influência sobre os meus tios, porque eram gestores antigos na casa, e faziam todo o tipo de bypass. Houve um momento crítico em que eu digo claramente aos meus tios: “Ou vai assim ou vou-me embora”. Seja o que Deus quiser, com muita preocupação porque eu também lá tinha capital. Foi um momento muito difícil, mas também são experiências únicas que serviram para muitas situações que posteriormente tive que gerir.
A partir das 9 e meia da noite ou era uma emergência ou não me interrompessem porque eu estava a fazer o jantar e a fazer a refeição com a minha família
Não existia quem a apoiasse, algum mentor?
Tive alguns patrocinadores ou facilitadores. Antes de assumir a presidência, tive uma pessoa que me ajudou imenso, o Professor Ernâni Lopes, que era nosso consultor e com quem trabalhei muito de perto. Foi um grande defensor que tive dentro a empresa. Logo em 1994/1995 ele defendia que eu devia assumir a presidência do grupo e essa ideia foi maturando na cabeça dos meus tios. Ele abriu-me muito para o mundo. Criou o Grupo de Reflexão 21, em que me incluiu. Era um grupo fechado, de doze pessoas, para refletir sobre diferentes temas. Cada um de nós preparava uma apresentação, e depois debatíamos. Hoje, reconheço que valorizou imenso o meu crescimento.
Recordou aquela época em que trabalhava 16 horas por dia. Os tempos hoje são propícios a um maior equilíbrio?
A conclusão a que chego é que nós trabalhamos mal. O sistema é profundamente desincentivador de maior eficácia. No nível a que estava, havia muita coisa que se resolvia à hora de almoço, o que para mim era uma seca. Eu sentia-me a perder tempo: almoçava-se, conversava-se de generalidades e, chegados os últimos minutos, quando se tomava o café, é que se falava do assunto que se tinha de tratar. Eu tinha tanta coisa para fazer que a falta de organização dava-me cabo da cabeça.
Eu chegava tarde e queria jantar com os meus filhos. Por isso, institui uma regra: proibi de me ligarem a partir das 9 e meia da noite. Ou era uma emergência ou não me interrompessem porque eu estava a fazer o jantar e a fazer a refeição com a minha família. Além disso, no dia seguinte as oito da manhã estava na empresa.
Para qualquer mulher, há uma fase a meio do percurso profissional que é verdadeiramente difícil, porque não se tem ajudas e não se tem dinheiro.
Apesar dessa regra, trabalhava muitas horas. Como conseguia conciliar tudo?
Reconheço que imensas vezes tinha dúvidas se isto ia correr bem, principalmente com os filhos, que são a nossa grande preocupação. Sentia uma culpa enorme: as outras mães, as minhas amigas, estudavam com os filhos e eu não tinha tempo. Tenho uma filha com 27 anos, que está na Alemanha, um filho com 25, que trabalha numa consultora, os dois formados no Técnico, excelentes profissionais, independentes, que me garantem que nunca fui uma mãe ausente. Eu chegava às dez da noite, mas era exigente: as pastas tinham de estar à porta, preparadas para o dia seguinte e eles sabiam que só ajudava em alguma dúvida dos TPC, que tinham de fazer sozinhos. Não podia ser de outra maneira.
Para qualquer mulher, há uma fase a meio do percurso profissional que é verdadeiramente difícil, porque não se tem ajudas e não se tem dinheiro. Quando nós conseguimos atingir determinada posição, temos muitas ajudas: temos dinheiro para as pagar e isso não é de somenos importância. Nessa altura, telefonava e entregavam a comida pronta e tinha uma secretária que era a minha mais-que-tudo, super profissional, que geria a minha agenda e me recordava que os meus filhos tinham dentista ou que era preciso encomendar balões para a festa.
Naquela altura tinha muito medo que não resultasse, mas felizmente correu bem. Tive uma grande dose de sorte porque também depende das próprias características deles. É o maior investimento que eu fiz e aquele de que tenho mais recompensas. Só faltam os dividendos: os netos.
Cada um faz as suas opções de vida e eu não critico uma mulher que não quer ter filhos. Mas muitas miúdas que entrevistei diziam-me o que achavam que eu queria ouvir: que não queriam ter vida, não queriam ter filhos. Eu respondia: “Temos que encontrar onde é que está o ponto de equilíbrio de três vertentes: emocional, familiar e profissional. Sem ele, não somos completas e alguma coisa vai falhar que nos deixa angustiadas ou frustradas.”
Para mim a insolvência não era um cenário e consegui resolver o problema.
Qual foi o maior desafio profissional, com o qual teve que lidar?
Foram os meus últimos tempos da Edifer, com dificuldades financeiras e falta de obras. Foi a fase mais complicada da minha vida e em que me senti mais sozinha. Pela primeira vez, senti as dificuldades fisicamente. Até então, eu tinha uma grande capacidade de compartimentar a minha cabeça, de desligar do trabalho quando estava em casa e dormia ferrada até de manhã. Mas na última fase da Edifer, em que os problemas eram realmente pesados, mexiam com outras pessoas – não conseguir pagar os salários -, que é o pior para mim, comecei a não dormir bem. Eu, que sempre fui muito calma, notei que estava completamente em stress. Quando tive uma manifestação típica de uma pessoa que já não se está a controlar, que está no limite, o meu marido achou muito estranho e deu-me um comprimido para dormir, coisa que eu nunca tinha tomado. No dia seguinte, quando acordei, parecia que estava no paraíso: não tinha dores musculares, dores de cabeça. Quando concretizei o negócio de venda, a melhor coisa que fiz foi deitar os medicamentos pela pia abaixo. “Sou livre outra vez.”
Este foi o meu maior desafio profissional porque foram momentos muito difíceis no país, no setor e na empresa. Para mim a insolvência não era um cenário e consegui resolver o problema. Como costumo dizer, “o poder da nossa mente é brutal” e não deve ser subestimado. Se queremos verdadeiramente algo, se não a conseguimos é porque já não está nas nossas mãos.
Depois de sair da Edifer, a que é que se dedicou?
Estive três meses sem fazer nada, o que para mim foi horrível. Até que o Eng. João Talone me telefona para perguntar se tinha alguém que recomendasse para a Vendap em Moçambique. Na conversa, respondi: “Vou ver se encontro alguém, mas se tu quiseres, eu vou. Vou para a China, vou para qualquer lado”. Hoje presto serviços de gestão à Vendap, uma participada da Magnum Capital e sou responsável pela área internacional: Angola, Moçambique e Brasil.
Nos primeiros tempos ia uma vez por mês a cada um desses mercados. Não consigo ter reuniões por Skype ou por videoconferência. Neste momento, ao fim de seis anos, tenho as empresas estruturadas e organizadas, mas vou a dois países todos os meses porque considero que o contato com as pessoas é importantíssimo.
Depois, em 2016, o Salvador Mello convidou-me para ir para a José Mello Saúde e, passados uns meses, entregou-me a liderança de uma comissão de acompanhamento de todos os projetos de infraestruturas que o grupo tem em curso, o que representa um investimento significativo na construção de novos hospitais.
As mulheres também se autolimitam porque não consideram que seja possível ter uma família e uma carreira – o que por vezes é verdade.
É das poucas mulheres a desempenhar funções não executivas em empresas de peso, como o Grupo Mello.
A situação tem vindo a mudar, mas, por vezes, para que se dê o salto, é preciso forçar com mecanismos como a legislação. Sempre fui contra as quotas, mas hoje reconheço que há um paralelismo com as lutas das sufragistas no início do século: se não há igualdade, sem imposições legislativas, a mudança não acontece porque o controlo está nas mãos do sexo masculino.
Porém, as mulheres também se reservam, autolimitam-se porque não consideram que seja possível ter uma família e uma carreira – o que por vezes é verdade, depende dos setores. As mulheres não se disponibilizam tanto para uma carreia internacional, porque é difícil e nalguns casos é impossível. Felizmente, as coisas estão a mudar: cada vez mais, os homens, estão a aderir à licença parental e as tecnologias também facilitam imenso a conciliação.
Quais são as competências e as características que considera fundamentais, para desempenhar essa função?
Acerca do papel dos administradores não executivos nos Conselhos, considero que não pode ser apenas ir às reuniões. Tem que haver um distanciamento, mas isso não pode significar falta de conhecimento. Caso contrário não se pode ter opinião, ser crítico, tomar decisões acertadas, no fundo, desempenhar o papel certo.
Conselhos a uma jovem executiva: prepare-se para trabalhar muito, mas procure o equilíbrio.
Que conselho é que daria a uma jovem executiva, que estivesse prestes a iniciar-se nesta atividade profissional da gestão de empresas?
Preparem-se para trabalhar muito, mas procurem o vosso próprio equilíbrio. O equilíbrio de uma pessoa, não é igual ao da outra. Estejam sempre updated. Cuidado com o telemóvel: é uma máquina muito potente, tem muita notícia e informação, mas é conhecimento não sustentado e leva a uma dispersão enorme; tem de ser bem gerido.