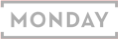Paulo Mendes Pinto é coordenador da área de Ciência das Religiões na Universidade Lusófona. A sua área de investigação é a História das Religiões Antigas (mitologia e literaturas comparadas). Dedica parte dos seus trabalhos a questões relacionadas com a relação entre o Estado e as religiões, o convívio e a Cidadania. Entre outras publicações, é co-autor do livro A Verdadeira História de Maria Madalena (com Julieta Mendes Dias) e é um dos três organizadores de A Bíblia e a Mulher na Contemporaneidade, que acaba de ser publicado pela editora universitária da Lusófona, onde se reúnem tomadas de posição de uma dezena de líderes religiosos cristãos sobre o erro em usar a Bíblia como fonte para justificar a discriminação de género.
Paulo Mendes Pinto aceitou o desafio da Executiva e fez “arqueologia interior” para recordar as mulheres que mais marcaram e marcam a sua existência.
“Num olhar muito egocentrado, as pessoas com que nos cruzamos na vida podem dividir-se entre as que nos marcaram e aquelas que não recordamos por nada de específico ou especial. Umas são conteúdo na narrativa de valor que fazemos da nossa história, outras são paisagem mais ou menos não individualizável. Quando falamos de mulher, e sendo nós seres sexuados, este jogo entre a marca e a paisagem assume uma dimensão existencial muito grande.
Tudo se complexifica na medida em que somos seres no tempo, na relativização e nas releituras e reconstrução que fazemos constantemente do nosso devir, da nossa passagem pelos outros e da forma como eles nos tocam. Por exemplo: que memórias tenho da minha avó? -talvez a mulher que mais me marcou, mas que conheci na infância e numa adolescência que, como qualquer adolescência, tem tudo de subjetivo e pouco ou nada de memórias objetivas e isentas… o mesmo se passa com todas as restantes pessoas que me marcaram, homens ou melhores, que guardo na memória com um grau de subjectividade que é o que lhes dá sentido, mesmo que suportado por factologia distorcida, incompleta e lida de forma viciada.
A minha avó Alice, a única que conheci, mãe do meu pai, foi uma mulher que me marcou pela serenidade. Religiosa, viúva e mãe de um filho que muito foi marcado pela Guerra Colonial, com tudo o que de traumas e afastamento isso implicou, foi no seu neto que focou todo o seu cuidado e atenção. Vivi intensamente essa dedicação, esse desejo de tudo me fazer, de em tudo me ajudar, de tudo o melhor conseguir para mim. A minha avó Alice era a imagem da bondade, da generosidade e, sobretudo, da dádiva. Recordo-a como a mais ninguém: chegado a Lisboa com dez anos para estudar num colégio interno, nos Pupilos do Exército, os fins-de-semana em casa dela eram o oásis de carinho que ainda hoje me alimenta na ternura que tento colocar na relação com quem me é mais próximo.
A “ressaca” da Guiné levou os meus pais para um longo retiro longe do bulício da cidade. Isso justificou a minha vinda para Lisboa e a estruturação do espaço mental e afetivo da maternidade de forma intermitente em torno de ausências e de presenças.
À presença da minha avó Alice até aos meus dezassete anos, a presença muito posterior das minhas duas sogras foi um regresso e uma recriação do sentimento materno. A Maria Luiza, primeiro, e a Rosa, depois, preencheram em muito o vazio que o sentimento de ausência em mim imprimira. Mais recentemente, em relação à mãe da Zé, a Rosa, tive a sorte de ser “o-filho-que-não-tive”, numa dádiva que em tanto me recordou a avó Alice, mostrando como nisto de interpretar o tempo a ciclicidade é a forma natural que temos para organizar os sentimentos.
Com a Teresa, o meu primeiro casamento, tive dois filhos que me vieram dar o outro lado dessa dimensão geracional que é o ser pai o que, convenhamos, ajuda a ser filho. Mas tive também todo o início da minha vida académica e profissional, com marcas que são perenes e me formaram profundamente num sentimento de busca constante e de insatisfação: vindos, ambos, de áreas completamente distintas, criou-se o espaço e o tempo de possibilidade para que abandonássemos as formações que vinham de trás e abraçássemos novos caminhos com a mudança para a licenciatura em História.
Se a minha avó foi, e é, a minha linha de grande continuidade e estabilidade vinda desde a mais tenra infância, a Zé é o reencontro constante, no presente, com essa capacidade de dar valor ao essencial e de relegar para o seu devido lugar o que é secundário. São estes encontros a meio da vida que nos fazem crer que, afinal, não há acasos e que aos quarentas ainda nos estão reservadas muitas alegrias e muito preenchimento!
A minha mulher (usando este tom possessivo que nos vem da tradição, mas onde sou eu que lhe pertence de forma incondicional!) é o porto de abrigo, a descoberta do carinho e da força que vem da serenidade, do toque normal e do gesto simples. A Zé foi a possibilidade de, após as águas turbulentas, desaguar numa nova Era que não imaginei possível de existir.
Hoje, com um quadro familiar sólido, os desafios no feminino criam-se, ainda e diariamente, com as duas mais jovens mulheres do agregado. A Matilde e a Raquel, adolescentes hoje como eu o fora quando vivi com a minha avó, desafiam-nos constantemente a perceber limites e a equacionar a moral e a ética. Lutadoras na vida de formas muito diferentes, as duas são parte indizível no meu caminhar, seja no que ele tem sempre de solitário, seja na parte mais importante, no grupo que escolhemos para trilhar o caminho da vida. É um espelho constante que temos à frente.”