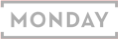Texto de Paula Rios, jurista e profissional de seguros
Há livros que, por uma razão ou outra, nos marcam muitíssimo – são “os livros da nossa vida”. Para mim O amor incerto, escrito pela feminista francesa Elisabeth Badinter, é sem dúvida um desses livros especiais. Foi escrito há quase quarenta anos, mas a sua lucidez e actualidade ainda hoje me surpreendem.
O livro conta-nos a “história do amor maternal do séc. XVII ao séc. XX”. É um livro corajoso que refuta um dos maiores dogmas da humanidade, o do amor maternal. É universalmente aceite, pelo menos na cultura ocidental, que todas as mães amam os seus filhos. Elisabeth Badinter atreve-se a dizer que não é bem assim, através de exemplos que nos mostram que, efectivamente, há muitas mães que amam os seus filhos, mas existem outras tantas que não sentem amor por eles. Ou seja: o amor maternal não é um dado adquirido. Escusado será dizer que este livro, publicado no início dos anos oitenta, foi altamente controverso, suscitando acesos debates; reacções violentas, até.
Li o livro em 1990 e nessa altura tinha a certeza de que não queria ser mãe. Ter um casamento feliz e uma carreira bem-sucedida eram os meus planos de vida, e não incluíam filhos. Achava que implicariam enormes sacrifícios que não estava disposta a fazer. Além disso, não sentia nenhum instinto maternal, ao contrário das minhas amigas que sonhavam em ter um bébé nos braços. Pelo contrário, o meu então marido queria muito ser pai, mas achei que podíamos adiar essa discussão para daí a uns anos.
Quando o nosso grupo de amigos se juntava aos sábados à noite tínhamos grandes debates sobre ter ou não ter filhos, em que eu era a única – e acérrima – defensora desta última opção. O meu marido preferia não se envolver – e o que ele pensava não era segredo para ninguém – e assistia impassível enquanto nós, os restantes, esgrimíamos argumentos contra a a favor de cada uma das teses, sem chegar a qualquer conclusão.
Senti-me ainda mais segura das minhas convicções depois de ler o livro, que me dava todos os argumentos necessários para tentar convencer as minhas amigas de que estava certa e elas erradas. Porque eu não negava o que elas pensavam sobre a maternidade, ou os seus instintos maternais; eu só queria que elas aceitassem que eu, como muitas outras mulheres, não os sentíamos – e isso era exactamente o que a escritora defendia no livro. Com vários argumentos inatacáveis.
O livro começa por nos dar a (incrível) definição de instinto maternal que constava da edição de 1971 do dicionário Larousse: “uma tendência primordial que cria em toda a mulher normal um desejo de maternidade e que, uma vez satisfeita, incita a mulher a garantir a protecção física e moral dos seus filhos”. A autora desde logo contesta o conceito de que uma mulher “normal” tem de desenvolver este instinto, sob pena de não o ser. Se uma mulher não quer ter filhos, então ela não é normal? Uma mulher que não é mãe, não é normal? A autora não concorda, obviamente. E dá-nos vários exemplos da História em que esse instinto não existia, como o caso das mães citadinas e com um certo estatuto social do séc. XVIII que nunca amamentavam os seus filhos, e os entregavam ao cuidado de amas que viviam no campo. Estas mães separavam-se dos seus filhos pouco depois de eles nascerem e não os voltavam a ver durante meses ou anos – não por necessidade, mas por opção. E mesmo quando os bébés morriam devido aos cuidados de amas pouco recomendáveis, continuavam a enviar-lhes os filhos que tinham a seguir…será que pensavam que estavam a fazer o melhor pelos filhos? Será que os amavam e, mesmo assim os entregavam a outras mulheres para que cuidassem deles? E qual a razão pela qual o faziam?
Outros estudos, defendia a autora, mostravam claramente que o choro dos bébés recém-nascidos, ou a amamentação, não provocam a mesma reacção em todas as mães. De facto, acrescentava, uma mulher tem o direito de não querer ser mãe – deve ser uma escolha, e não uma imposição, da natureza ou da sociedade.
Banditer conclui que o amor maternal acontece em algumas mulheres e noutras não.
Badinter conclui que o amor maternal acontece em algumas mulheres e noutras não. Não aceita que seja um dogma e dá-nos muitos exemplos nesse sentido. Diz que não existe uma “mulher normal”, no sentido duma mulher que quer cumprir o seu “destino” de maternidade, e discute o conceito de “boa mãe”. Refere a evolução do amor maternal – e como ele mudou – desde o séc. XVIII até ao séc. XX, em que por exemplo a amamentação se tornou um tal dogma que as mulheres que não conseguem amamentar os filhos (por razões várias, por vezes de saúde) se sentem terrivelmente culpadas, para não falar na censura da sociedade relativamente às mães ditas “contra-natura” que escolhem não amamentar os filhos. A autora levanta um conjunto de questões muito pertinentes num livro muito interessante, informativo e esclarecedor sobre a condição das mulheres e a sua relação com aquela, que é, inquestionavelmente, uma das mais importantes escolhas das suas vidas, senão a mais importante – ser ou não ser mãe. Escolha que, ao longo de milénios, foi vedada às mulheres, e que felizmente já existe há algumas décadas, desde o advento da pílula. Mesmo se hoje em alguns países assistimos a um infeliz retrocesso relativamente a esta liberdade de escolha.
Este livro impressionou-me vivamente, identifiquei-me com muitas das posições defendidas pela autora e senti-me feliz por poder concluir que não estava só, no sentido de que havia muitas mulheres que, como eu, não sentiam o apelo da maternidade. E durante muitos jantares as minhas amigas continuaram a ouvir os argumentos de Elisabeth Badinter.
Desfrutar plenamente da minha maternidade não mudou em nada o significado deste livro.
E depois, como tantas vezes acontece na vida, mudei de opinião e quis ser mãe. Será que senti finalmente o apelo até então inexistente ou ignorado, ou que finalmente concluí que estava pronta para fazer os sacrifícios que antes tinha receado? Francamente não sei, nem me parece que a razão seja importante. O que realmente importa é que ter filhos, sentir amor maternal por eles – e que amor esse, meu Deus! – e desfrutar plenamente da minha maternidade não mudou em nada o significado deste livro ou o facto de que continuo a concordar com a autora. Em momento algum ela nega o amor especial entre uma mãe e os seus filhos; apenas contesta o facto de esse amor ser visto como algo que todas as mulheres têm forçosamente de sentir. Esse amor nem sempre está lá e basta-nos ler os jornais para concluir que algumas mães abandonam os filhos, os matam, os vendem como escravos ou simplesmente não querem saber deles. Hoje, décadas após a publicação do livro, acredito que a forma como a sociedade vê este tema já mudou, tornando-se mais realista. Também estou em crer que, entretanto, a definição do dicionário Larousse já terá sido alterada – para melhor. Afinal, quem se pode arrogar o direito de dizer o que é uma mulher “normal”?
É indiscutível que as mães animais têm um instinto maternal fortíssimo, mas nós humanos somos incrivelmente mais complexos.
Ao escrever estas palavras, atrevo-me a pensar que o instinto maternal será mais desenvolvido nos animais. Um anúncio incrível que vi há alguns anos na televisão britânica sobre maus tratos a crianças mostrava isso de forma clara: no início víamos várias imagens de mães do mundo animal com as suas crias, como leoas brincando de forma carinhosa com os seus leõezinhos, ursas rebolando com os seus pequenos “peluches”, pássaros chocando ovos, macacas abraçando os filhotes…para logo a seguir nos mostrar a imagem chocante de uma menina com um olho negro e um ar muito infeliz. E é então que ouvimos uma voz grave dizer “da próxima vez que chamares ‘animal’ a alguém, pensa duas vezes!”.
É indiscutível que as mães animais têm um instinto maternal fortíssimo, mas nós humanos somos incrivelmente mais complexos. Algumas mães têm-no, e outras não. E simplesmente teremos de aceitar esse facto como algo natural.
Quanto a mim, ainda bem que mudei de ideias! Adoro os meus filhos e sou (pelo menos é o que eles dizem!) uma verdadeira mãe-galinha. Mas foi a minha escolha – eu quis mesmo ser mãe, não aconteceu por acaso – e não podia estar mais feliz. Mas acho que a escolha de outra mulher que não quer ter filhos é tão válida como foi a minha. Porque cada mulher deve ter o direito de decidir como quer viver a sua vida, sem qualquer tipo de pressões. Não há uma maneira “normal” de viver a vida. Há apenas a “nossa” maneira. Que cabe a cada uma de nós encontrar. Aquela que, esperamos, nos fará felizes.