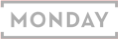Foi com apenas 12 anos que Marlene Vieira descobriu a sua paixão, a cozinha, quando acompanhava o seu pai, fornecedor de carne, numa entrega a um restaurante de uma jovem chef, na Maia, cidade onde nasceu, que a fascinou pela “forma serena e harmoniosa como trabalhava”. Fez-se o “clique” e Marlene Vieira nunca mais parou. Lá, trabalhou enquanto se formava na Escola de Hotelaria de Santa Maria da Feira, onde foi a melhor aluna do curso do seu ano e no país, mérito que lhe valeu uma bolsa de estudo para estagiar numa escola de hotelaria no Porto enquanto formadora.
Cedo percebeu que a teoria não superaria o seu amor pela prática e “arregaçou as mangas” para conseguir trabalhar com os chefs que queria. Trabalhou em restaurantes internacionais, como o Alfama, em Manhattan, que a despertaram para a cozinha portuguesa; em restaurantes de hotel de 5 estrelas, onde assumiu cargos de chefia, e ao lado de grandes nomes da gastronomia portuguesa, como o chef Cordeiro, o chef Vítor Claro e o chef Luís Baena, todos eles homens.
Na televisão, Marlene Vieira fez parte do grupo de professores jurados do programa “Chefs’ Academy”, participou no programa “A História da Gastronomia Nacional” e recentemente foi convidada para júri do “Masterchef”. Tem vários livros publicados, entre eles “Os Doces da Chef Marlene”.
Os seus três restaurantes em nome próprio – o Food Corner no Time Out Market do Mercado da Ribeira, o Zunzum Gastrobar, frente ao rio Tejo, e o mais recente, o Marlene, um restaurante que “reflete a sua aprendizagem em forma de viagem gastronómica”, também junto ao Tejo – provam que já tem cartas dadas na área da restauração.
Marlene Vieira é sócia do marido e pai da sua filha, o chef João Sá, e aos 42 anos fala-se cada vez mais que pode vir a ser a primeira mulher a ganhar uma estrela Michelin em Portugal.
Preza a disciplina e o rigor na cozinha, mas insiste que as suas equipas trabalhem com harmonia e serenidade, não fosse esse o ambiente que tanto a inspirou.
Nesta entrevista, fala-nos sobre a relação das mulheres com a cozinha, do papel que desempenha enquanto role model e dos desafios da transição da cozinha para uma função de gestão.
Como é que surgiu a paixão pela cozinha e o que é que a levou a seguir essa área?
Surgiu repentinamente aos 12 anos. O meu pai era fornecedor de carne em vários restaurantes e eu costumava acompanhá-lo nas entregas. E houve um restaurante em particular que me despertou a atenção. Pertencia a uma mulher, jovem, chef, com um ambiente completamente contrário àquele a que estava habituada. Era o Costa Brava, na Maia, um restaurante de cozinha francesa, mas também de cozinha de autor – apesar de jovem, ela já tinha a sua própria visão de cozinha. E tudo aquilo me fascinou, o silêncio e a forma serena e harmoniosa como trabalhava. Naquele momento fez-se o “clique” e pedi aos meus pais que me deixassem lá trabalhar durante as férias de verão. E desde então nunca mais saí da cozinha.
Mas continuou a estudar?
Claro, nunca abandonei a escola. Era muito certinha e sempre tive muita sede de aprendizagem. Terminei a escola aos 16 e ingressei na escola de hotelaria durante três anos. Continuei a trabalhar no Costa Brava até terminar o curso de cozinha, aos 18 anos. Fui fazendo tudo em paralelo, nas férias, em dias de feriado, sempre que tinha tempo livre estava na cozinha.
Foi um curso muito intenso que, de certa forma, alimentou mais o meu sonho. Tive bons mestres, mas naquela altura, há mais de 20 anos, havia um espírito militar nas cozinhas profissionais. Era um meio muito duro, com um ambiente muito tenso, mas acredito que isso me fez adaptar e não desistir. O meu foco na altura já era muito forte.
Isso não faz falta nas cozinhas? Alguma disciplina?
Não naquele nível. Havia um certo abuso de poder, por vezes levado ao extremo. Acho que na cozinha é preciso regra, rigor e exigência, e não abusos. Não desisti, até porque tive sorte com o bom exemplo do restaurante onde trabalhava. Quando terminei o curso de cozinha sabia que existiam muitos restaurantes com aquela forma de estar “militar”, por isso fui escolhendo e filtrando o que era importante e procurei sítios que tivessem o que me fez despertar a paixão pela cozinha.
“Quando procurei o Ritz não aceitavam mulheres para a função de Chef…”
E como conseguiu encontrar esses sítios?
Fui pesquisando os chefs, escolhendo aqueles com quem queria trabalhar. Quando terminei o curso, fui a melhor aluna do meu ano e ganhei uma bolsa de estudo para estagiar enquanto formadora numa outra escola de hotelaria. Tinha 18 anos, ainda era uma criança e fui dar aulas a alunos com 20 e poucos anos, já formados. Foi muito difícil. Em termos técnicos tinha confiança, mas a teoria, dar aulas, era diferente. Não estava nada preparada, por isso decidi fazer simultaneamente um curso de formação de formadores para me sentir mais confiante a lecionar. Estive lá durante um ano, mas depois percebi que queria mesmo era ser cozinheira.
Então decidi pesquisar sobre chefs portugueses. Não queria muito ir para fora porque as cozinhas eram muito duras, especialmente em França. Pesquisei o chef Cordeiro, que na altura era mediático e tinha um currículo interessante. Fui chamada para uma entrevista, mas confesso que não fiquei fã, naquela altura ele fazia uma cozinha mais tradicional, mas com uma interpretação muito própria e eu queria fazer fine dining. Depois procurei o Ritz, mas naquela altura não aceitavam mulheres para a função de chef…
Estamos a falar em que altura?
Foi entre 1999 e 2000. Tinha de começar pelo staff e não aceitei. Por coincidência, fui a uma entrevista num hotel de charme que ia abrir em Vila do Conde, no Forte de São Batista, para o qual o chef do Ritz iria ser consultor. Aliás, concorri para lá com esse interesse, mas curiosamente ele despediu-se do Ritz e foi mesmo trabalhar para esse hotel. Fiquei um ano e meio e, entretanto, tornei-me muito amiga de um dos cozinheiros, que um dia me disse “vou para Nova Iorque” e eu respondi “também vou!”. E fui mesmo.
A ida para Nova Iorque foi repentina ou teve de ser planeada?
Não dou um passo sem ter a mínima estabilidade, por isso arranjei casa, trabalho e tive o apoio de alguns amigos. Com 21 anos fui trabalhar para um restaurante em Manhattan, o Alfama, num ambiente de luxo, a fazer cozinha portuguesa, que eu não sabia fazer. Posso dizer que descobri a nossa cozinha em Nova Iorque. Foi um impacto muito forte e a percebi que era mesmo aquilo que queria fazer. Trabalhei lá durante dois anos.
Sempre senti que faltava glamour, delicadeza e alguma sofisticação à cozinha portuguesa. Por isso o meu trabalho dos últimos 20 e poucos anos, desde os meus tempos em Nova Iorque, tem sido em prol de uma melhor apresentação da nossa cozinha.
“Nova Iorque era uma cidade em que se podia ser o que se quisesse. No nosso país ser cozinheiro era uma vergonha”
Rumar a Nova Iorque foi fundamental para o seu percurso, para se apaixonar pela cozinha portuguesa e querer adaptá-la aos novos tempos. Que mais é que essa decisão trouxe de importante para a sua carreira e para a sua vida?
Acho que trouxe mais para a minha forma de estar na vida, que é uma forma de liberdade. Nova Iorque era uma cidade em que se podia ser o que se quisesse, havia uma liberdade que em Portugal ainda não existia. No nosso país, ser cozinheiro era uma vergonha, os cozinheiros eram vistos como serventes.
Em Nova Iorque aprendi a ter orgulho na minha profissão porque era visto como algo muito especial. E falo mesmo em Nova Iorque, em particular, que é uma cidade muito diferente do resto dos Estados Unidos. Há pessoas de todo o mundo, com grande sentido de partilha e admiração pelo trabalho de cada um, e onde é possível crescer. Essa experiência mudou a minha vida e de certa forma tive sorte em tomar a decisão de ir para lá porque cheguei com uma mente fechada e regressei com a mente muito mais aberta.
Como foi o regresso?
Regressei, mas para trabalhar com o tal chef do Ritz, que tinha sido convidado para abrir o novo Sheraton do Porto e que sabia que eu já estava numa vertente de cozinha portuguesa. Ele foi chamado para fazer cozinha portuguesa nesse hotel, num conceito de fine dining. Durante três anos ajudei a construir esse conceito. Demos muita formação a muitos cozinheiros da chamada “nova cozinha portuguesa”, que atualmente são cozinheiros e chefs. Foi uma espécie de “escola”, um bom sítio para as pessoas evoluírem.
Depois começou a “onda” da cozinha molecular, em 2005, 2006. Sempre gostei muito de técnicas na cozinha, na forma de criar coisas novas utilizando os nossos sabores, não desvirtuando o que existe, mas experimentando, por isso fui à procura de uma pessoa que estivesse na mesma “onda” que eu. Por incrível que pareça, acabei por encontrar um cozinheiro com o qual tive o privilégio de partilhar esta experiência – o chef Vítor Claro. Juntos começámos a fazer cozinha portuguesa com técnicas de cozinha molecular, no Degusto, em Matosinhos. Hoje está afastado das cozinhas, dedica-se ao vinho, mas é um dos melhores cozinheiros que já conheci. Trabalhámos juntos durante um ano e depois a Starwood, empresa detentora do Sheraton, chamou-me para fazer a abertura de um hotel em Torres Vedras, o Westin Campo Real, com um restaurante de cozinha de luxo portuguesa, onde fui chefiar e criar receitas sozinha. Estive lá três anos.
Em 2009, quando estava no Westin, participei pela primeira vez no concurso Chef Cozinheiro do Ano e o chef Luís Baena, um dos jurados, convidou-me para trabalhar com ele. Sabia que eu dominava as técnicas de cozinha molecular e convidou-me para chefiar o Manifesto, em Santos. Foi a primeira vez que vim para Lisboa, estávamos em 2010.
Como correu a experiência na capital?
Trabalhei apenas durante um ano, mas foi o sítio onde abri (ainda) mais a minha mente. Passei a ver o mundo através dos olhos do Baena. Além das técnicas que fui aperfeiçoando com ele, aprendi técnicas de todo o mundo: cozinha japonesa, mexicana, peruana, brasileira. A cozinha sul americana, que hoje está muito na moda, na altura não era tão comerciável. Há 12 anos já fazíamos ceviche, por exemplo, mas as pessoas nem sabiam o que era. Como se costuma dizer, “foi antes do tempo”.
O Manifesto foi um sucesso, mas também foi um choque muito grande para os portugueses. Havia poucos turistas em Lisboa e atravessávamos uma crise. Nesta altura, houve um retrocesso muito grande na evolução e nas técnicas de cozinha e a solução passou por criar restaurantes lowcost: as tascas modernas, as tabernas, a “cozinha da felicidade”, onde se comia e come muito bem, mas que é na verdade uma cozinha de conforto, diferente do fine dining.
E o que é que fez nesse período?
Saí do Manifesto em 2012 e abri o Avenue, na Avenida da Liberdade, que chefiei sozinha. O patrão disse-me que as pessoas queriam “petiscar bonito, barato e bom” e eu tive de tirar da cartola um menu com criatividade e com as técnicas que já conhecia. Mas consegui um “lugar ao sol” e chamei a atenção, algo que não é muito fácil sendo mulher. Apostei na cozinha portuguesa, em petiscos portuguesa e hoje orgulho-me de ver em tabernas algumas das coisas que fiz no Avenue. Ninguém sabe que fui eu quem fez, mas a inspiração partiu de mim. O que é certo é que foi com o Avenue que fiquei realmente conhecida.
“Não há investidores em Portugal para as mulheres”

“Os homens chegam mais longe porque são cumpridores das regras. Eles ficam e elas saem”, Marlene Vieira.
O Manifesto foi outro marco na sua carreira.
Sim, abri muitas portas. Quem estava no meio já me conhecia, mas os clientes não. Conheciam outros chefs. Mais tarde tive a oportunidade de abrir no Time Out Market, no Mercado da Ribeira, graças ao trabalho que fiz no Avenue. Também fui convidada a fazer um programa de televisão, o Chefs Academy, e fui recebendo outros convites. Sei que não tenho uma fila de clientes à porta porque a minha cozinha não é uma cozinha de massas, mas fui construindo e investindo sempre na minha carreira. O espaço no Time Out Market foi o primeiro no qual sou gerente e proprietária e onde investi tudo o que fui somando em termos de valores líquidos, porque não há investidores em Portugal para as mulheres.
Sente isso?
Com certeza! Senti e ainda sinto. Com tudo o que já provei, de certa forma, não há o mesmo número de convites, para chefiar, para consultorias, o que quer que seja, na medida em que há para os homens. Eles recebem convites constantemente. Isso não acontece comigo nem com outras mulheres chefs. Continua a haver um “clube” de homens nesta área e nas cozinhas.
Mas sente isso mais da parte do mercado e não tanto da parte dos seus colegas, porque junto dos seus colegas é reconhecida.
Sem dúvida, e a própria imprensa dá-me esse valor. Os investidores, quem tem o dinheiro, não querem mulheres com algum tipo de poder. Não acreditam em nós, nem nesta fase em que já sou conhecida. Não acreditam na capacidade de liderança.
Nas cozinhas existe uma liderança feminina e uma liderança masculina ou são iguais?
Acho que as mulheres têm uma forma mais delicada, mais cuidadora na cozinha, não têm esta forma de estar militar, de “ninguém abre a boca, ninguém fala”. Isto não existe com as mulheres. Estar tudo muito calado, tudo muito fechado, é algo que acontece em muitas cozinhas nas quais os homens são líderes.
Acho, sinceramente, que os homens são muito mais submissos entre eles do que são as mulheres com os homens. Há muitas mulheres que saem das cozinhas porque não se dispõem a fazer tudo aquilo que é suposto fazer dentro de uma cozinha: calar-se, aceitar tudo e dar sempre razão ao chef. As mulheres não se sujeitam tanto a isto. Querem participar, estar dentro de uma equipa de trabalho e há muitas cozinhas em que não existe equipa de trabalho; existe um chef que diz “é assim” e ponto final, toda a gente cumpre. Os homens chegam mais longe porque são cumpridores das regras. Eles ficam e elas saem.
A cozinha é um território das mulheres, sempre foi. É isso que justifica que haja tantas cozinheiras e tão poucas chefs?
Eu acho que é uma das razões, sim. Há poucas chefs porque não gostam das regras do jogo, não as aceitam. Para chegar a chef têm de aceitar as regras no percurso. Além disso, as mulheres são explosivas, têm muitas vezes as emoções um bocadinho mais “à flor da pele”, o que é normal, faz parte de ser mulher.
Entre homens existe muito esta ideia de aceitar tudo, porque depois quando estiverem no lugar daquele homem também vão querer ser assim. Há um respeito muito grande por esse tipo de liderança e há muitos homens chefs que têm mulheres como “braços direitos”. Isso faz-me muita confusão, elas não quererem dar o próximo passo. Acho que tem muito a ver com a educação da mulher. Na educação portuguesa fomos educados para fazer o que nos mandam e as mulheres ou estão atrás ou ao lado do homem, nunca à frente.
Eu não tive essa educação e por isso fiz o percurso que fiz. Podia fazer o que quisesse, os meus pais nunca me disseram “é assim que funciona o mundo”. Disseram-me que podia ser e fazer o que quisesse, desde que respeitasse as pessoas.
“[Sobressaí num mundo dominado por homens] porque nunca vi barreiras”
No seu percurso pela cozinha, sente que tem sido uma inspiração ou até uma mentora para algumas das mulheres que tem encontrado?
Não tenho esse foco e, na verdade, tento tirar um bocadinho esse peso de cima de mim.
Hoje é um role model para mulheres que queiram seguir a cozinha, porque hoje elas sabem que há uma mulher chef e no seu tempo por acaso descobriu aquela. Além disso, é também uma aspirante a estrela Michelin…
Depois descobri outras, sim, mas não eram conhecidas. Isso também é muito importante. Tudo o que neste momento faço já não é por mim, é algo maior do que eu. É por um conjunto de pessoas, de mulheres, da equipa. Sinto muito esse peso. É quase um caminho sem volta. É uma sensação boa e assustadora ao mesmo tempo, porque não podemos desiludir. É assustador pensar nisso, há uma pressão e uma responsabilidade muito grandes.
O que é que a fez acreditar que tinha hipótese de sobressair num mundo que ainda hoje é dominado pelos homens?
A tal liberdade. Nunca vi barreiras.
O que é que considera essencial para ter sucesso nesta área?
Há uma carreira, por isso há que haver uma construção e um foco. Acho que o principal é ter determinação e não nos afastarmos muito do nosso foco, do nosso sonho, no trabalho inicial. Por exemplo, se eu escolho fazer cozinha asiática, pode haver algumas variantes no meio do caminho que me vão ajudar, mas é muito importante manter esse foco de trabalho a curto, médio e longo prazo. Mais cedo ou mais tarde vai dar frutos. Acredito que esse é o segredo do sucesso.
Essa história de que os cozinheiros têm de experimentar, agora num restaurante de cozinha italiana, depois num de cozinha japonesa… Não é uma mais-valia. Acho muito mais importante consumirmos diferentes cozinhas do que fazê-las enquanto cozinheiro
Depois é muito importante escolher bem os sítios para onde vamos trabalhar e enriquecer esse foco, ter capacidade de análise e perceber o que é que aquele sítio nos vai trazer de novo. Claro que no meio disto tudo há dificuldades, mas fazemos isto por paixão, quando a maioria das pessoas trabalha por necessidade. É um privilégio.
Referiu que, quando terminou o curso, tentava informar-se sobre os chefs. Quando se escolhe uma cozinha para trabalhar, o que é que considera mais importante: o local ou a pessoa que está à frente?
A pessoa. É muito importante perceber qual é o trabalho que essa pessoa faz. No meu caso, trabalho os sabores portugueses, mas não trabalho só técnicas de cozinha portuguesa, também misturo várias técnicas. Se há uma pessoa que quer trabalhar cozinha portuguesa e que quer adquirir várias competências técnicas, provavelmente eu serei a pessoa indicada para essa pessoa aprender. Mas se por outro lado quiser aprender cozinha asiática, deve procurar um chef que tenha um trabalho consistente ao longo do tempo nessa vertente.
Mas muitas pessoas pensam “eu devo é ir para o Ritz!”, por exemplo. Nesse caso, se tivesse de optar: chef ou marca?
Iria atrás do chef e da sua bagagem. Há restaurantes que são sinónimo de qualidade e rigor. Uma marca é um selo de qualidade, dá-nos segurança e isso também conta. Mas um chef que faça uma cozinha que vá ao encontro dos nossos interesses é fundamental. Depois há também cozinheiros que querem fazer um trajeto de hotel, que gostam de diversidade. Já trabalhei em ambiente de hotel e foi uma ótima experiência para me organizar em termos de cozinha – os hotéis estão muito bem organizados em termos de distribuição –, mas foi só isso. Existem chefs executivos e cozinheiros que querem seguir esse trajeto porque preferem ambientes onde não há tanta criatividade e essa opção também é válida. Mas para mim não seria opção de todo. Depende muito do foco de cada um e daquilo que cada sítio pode acrescentar.
“Depois de ser mãe ninguém me queria como Chef”
No seu dia-a-dia, o que é que faz para que mais mulheres acreditem que é possível chegar a chef ou a posições de liderança nesta área?
É muito difícil, porque é preciso arriscar. Sei que as mulheres são as “guardiãs” da cozinha tradicional, desta cozinha de conforto. Eu própria às vezes sinto-me culpada, tendo eu a imagem de mulher portuguesa, parece que sinto a obrigação de trazer a cozinha portuguesa de uma forma mais genuína para os meus restaurantes. E é muito difícil de fugir desta sensação, há um sentimento de culpa, pelo menos para mim. Mas já existem muitas mulheres na cozinha tradicional portuguesa. Se se é só mais uma, não vai ser o suficiente para chamar a atenção. Há que arriscar a fazer coisas novas, porque é a única forma de dizer “estou aqui, olhem para a minha cozinha”.
O que diria a uma jovem que gostava de seguir esta área?
Que há que arriscar. Que encontre o seu próprio caminho, o foco, que seja persistente e, se cair, levante-se. Todos têm dificuldades na vida e as mulheres não são diferentes. Os homens também têm outras dificuldades. “Desistir” é uma palavra sobre a qual falo muito com a minha filha. Não se pode desistir, só se não houver opção, se isso afetar a nossa saúde.
Eu não tive propostas e depois de ser mãe, muito menos. Ninguém me queria como chef. Diziam “como é que vai tomar conta da filha?”, quando não era sequer um problema deles. O que é certo é que é um trajeto difícil, mas é preciso aceitar as dificuldades e tentar arranjar soluções. E se realmente elas quiserem ser reconhecidas e fazer um trabalho que marque o nosso panorama nacional, força. Também podem não querer. Eu nunca disse “quero é ser famosa”. O que quero é deixar uma marca. E para o fazer há que arriscar.
E que conselho deixa às mulheres que podem pensar em desistir nas tais cozinhas lideradas pelos homens?
Que peçam ajuda umas às outras. Na união é que está a força. Eu pedi muitas vezes ajuda. Uma vez pedi à Maria de Lourdes Modesto. Outra vez pedi ao Henrique Sá Pessoa, que me deu muita força enquanto mulher chef. Acho que nunca disse isto publicamente, mas sempre que tinha alguma dúvida, sobre um ou outro negócio, como o Henrique andava nesta vida há mais tempo, eu pedia-lhe conselhos. Tinha dúvidas, tinha medos, é normal. Nos momentos difíceis, as mulheres não podem ficar sozinhas.
Quando me propuseram abrir no Mercado da Ribeira, disseram-me que tinha de investir e eu não tinha dinheiro. Pedi ajuda a toda a gente até conseguir aquilo que queria. E assim como pedi ajuda a outros, estou disponível para ajudar também.
“Existe uma solidão na liderança e isso custa-me muito”
Como é que se organiza com 3 restaurantes?
Delegando, formando. Tenho outros chefs que trabalham comigo. Sou a chef executiva e tenho chefs em cada cozinha. E é não ter medo de lhes dar esta posição. Temos de nos libertar deste poder, delegando, corrigindo alguns erros e trabalhando em equipa. Faço reuniões semanais com cada chef e fazemos o ponto da situação, identificamos pontos a melhorar, de forma perfeitamente normal. Temos uma equipa de trabalho com uma hierarquia, com o chef, o sous–chefse os cozinheiros, com uma dinâmica natural de empresa.
Na sua vida pessoal de que é que não abdica mesmo?
Da minha filha, sem dúvida, não abdico mesmo. Lá em casa temos uma regra em que o domingo é o “dia da família”: eu e o meu marido, que também é chef, não podemos marcar nada fora do âmbito familiar, é o único dia em que estamos inteiramente dedicados à família. Durante a semana vamos intercalando os nossos turnos, por isso quando um vai buscá-la à escola ou à natação, o outro fica a trabalhar. Temos este trabalho em equipa porque optámos por não ter baby-sitter a tomar conta da nossa filha. Vamos pedindo ajuda aos avós, à tia e vamos fazendo este “jogo”.
E na vida profissional do que é que não “abre mão”?
De estar com a equipa. Existe uma solidão na liderança e isso custa-me muito. Gosto de me sentar com a minha equipa e esquecer que sou líder. É como sentir os pés na terra. Acho que isso é muito importante. Por isso, não abdico de estar com eles, inteira, de corpo e alma. Umas vezes num restaurante, outras vezes noutro. E quando faço eventos e tenho oportunidade não abdico de ser eu a cozinhar.
Foi fácil fazer essa transição da cozinha para a gestão?
Não, e continua a não ser fácil. Quando temos de pensar em soluções todos os dias, a nossa cabeça não tem descanso e deixa-nos exaustos. A cabeça cansa-se mais do que o corpo. No início foi muito entusiasmante, era uma aprendizagem e uma adrenalina extra. Agora já não acho tanta piada. Muitas vezes aborreço-me de estar numa função que, de certa forma, fui obrigada a assumir. No futuro, o meu objetivo é conseguir afastar-me completamente da parte executiva e voltar a estar mais na cozinha.
Tenho muitas saudades de criar. Tenho saudades de despinhar um peixe do princípio ao fim, por exemplo, mas ao mesmo tempo não posso “tirar” essas tarefas à equipa porque é o trabalho deles. Antes da pandemia estava a ser criada uma estrutura sólida na gestão, que me permitisse dedicar mais tempo à criação. Infelizmente fomos obrigados a abdicar de algumas coisas e houve um retrocesso de dois ou três anos. Agora há que voltar a ganhar esse fôlego, portanto tenho de esperar mais um pouco.
Qual a conquista profissional da qual mais se orgulha?
Os meus restaurantes, porque são fruto do nosso trabalho. Digo “nosso” porque, na verdade, o meu marido faz parte da empresa, por isso são quatro restaurantes, com o SÁLA. Investimos toda a nossa vida nisto, é um grande orgulho.
O que é que o seu novo restaurante, o Marlene, traz de diferente?
O Marlene é um restaurante gastronómico onde partilho toda a minha bagagem gastronómica, as técnicas que fui desenvolvendo, como se colocasse uma “impressão digital” em todos os pratos. Acaba por ser um circuito, como se estivéssemos a ver uma curta-metragem em forma de pratos. É a minha história de vida na gastronomia através de um menu de cozinha, claro, num ambiente sofisticado, minimalista, intimista, relaxado, sem grandes pretensões. Não é um sítio demasiado luxuoso porque essa não é a minha forma de luxo – o Marlene é um sítio para estar, para confiar e para desfrutar. É a cereja no topo do bolo.
Leia mais artigos de Mulheres em Feudos Masculinos