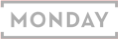Procurar por referências de Diana Moutela na Internet é uma tarefa algo inglória. As poucas que existem são muito breves e limitadas às suas funções na PwC. Faz sentido: afinal, esta engenheira informática portuguesa conhece muito bem o ciberespaço e dirige o Financial Crimes Unit da subsidiária nova-iorquina da PwC, um departamento onde a tecnologia é a maior arma na investigação ao crime financeiro. “Não é só o facto de trabalhar muito e não ter tempo para ter vida pública, é uma questão de proteção dos meus dados pessoais e da minha família. Eu sei como é que essas coisas podem ser usadas por pessoas com intenções menos boas, para seu proveito.”
Mãe de duas crianças, Diana trabalha em Nova Iorque há 12 anos e há três chefia esta unidade com nome digno de série de televisão. Licenciou-se em Engenharia Informática no Instituto Superior Técnico, em 2002 e trabalhou numa consultora de soluções tecnológicas, a Link Consulting.
A transferência do marido para Nova Iorque levou-a também a tentar uma carreira na “big apple”, onde acabou por ser recrutada pela PwC. Começou como senior associate, ganhando experiência e progredindo gradualmente até chefiar hoje um dos departamentos mais desafiantes da empresa, onde pode pôr em prática todos os seus conhecimentos informáticos em casos de grande relevo, em termos financeiros e até humanos, como nos contou.
A engenharia informática já fazia parte dos seu planos, quando andava na escola?
Não. Eu estava no agrupamento de Artes, no ensino secundário, e o meu sonho era estudar História de Arte. Mas comecei a ter consciência de que, com aquele curso, ou seria professora ou trabalharia num museu, e que as saídas profissionais eram muito reduzidas. Por isso, achei que deveria abrir o meu leque de possibilidades e escolhi a disciplina de Física, que me permitiu concorrer às engenharias. Achei que a Informática poderia ser um bom desafio para mim e atirei-me de cabeça, por uma questão pragmática. O meu pai trabalhava em contabilidade, quando eu era criança, em colaboração próxima com um engenheiro informático. Eu acompanhava o meu pai muitas vezes ao fim de semana, por isso já tinha alguma noção do que se tratava. Achava o trabalho do engenheiro informático muito interessante.
O curso foi muito difícil, para quem vinha de uma área artística?
Achei bastante difícil, sim, e um grande desafio. Mas o facto de sempre ter adorado matemática tornou-o mais fácil, apesar de tudo. A primeira coisa que fazia, quando chegava a casa das aulas do secundário, era fazer exercícios de matemática — e não eram trabalhos de casa; fazia-o por gosto. Também tinha uma apetência pelas coisas lógicas. Em 1997, quando entrei no IST, em 220 candidatos que entraram no curso de Engenharia Informática, éramos 20 raparigas — e foi o ano em que entraram mais. Mas consegui e foi um alívio terminar. Em 2002, comecei a trabalhar na Link Consulting (consultoria para o desenvolvimento de tecnologia), recrutada por um professor do IST, onde ainda estive durante quase três anos. O espírito era muito inovador, todos tinham uma mente muito aberta e vontade de experimentar coisas novas. Gostei muito.
Como é que passou daí para a PwC?
O meu marido (na altura ainda não éramos casados) estava a trabalhar na PwC, em Lisboa, e foi transferido para a PwC de Nova Iorque a convite de um colega polaco. Entretanto casámos e, depois de algum tempo, eu consegui permissão para trabalhar nos EUA. É muito difícil conseguir visto de trabalho lá porque é um investimento muito grande para as empresas, patrocinarem um visto. O meu marido enviou o meu currículo para a base de dados da PwC. Eu estava de férias em Nova Iorque quando me ligaram de lá a saber se eu estaria disponível para uma entrevista de trabalho. Ía regressar três dias depois a Lisboa, por isso marcaram para o dia seguinte (uma sexta feira). Lembro-me que ainda tive que ir comprar roupa. Na segunda-feira seguinte ligaram-me a fazer uma oferta de emprego. Aceitei logo, sem sequer negociar — mais tarde, disseram-me que era suposto tê-lo feito e que poderia ter conseguido condições melhores, mas cinco meses depois fizeram-me uma atualização salarial. Entrei como senior associate, já com alguma responsabilidade técnica, no departamento de Forensics, ou seja, a recolher e manusear provas de forma a que possam ser usadas em tribunal.
“Tanto o IST como a Link me deram a experiência para ter o tipo de responsabilidades que vim a ter na PwC. Em termos de componente técnica, fui muito bem preparada para o papel que assumi em Nova Iorque.”
Como encarou as novas funções? Foi um começo difícil?
Não no sentido de ser muito trabalho. A minha experiência no IST deu-me essa bagagem. Quando estava na Link não sabia o que fazer com o tempo livre, quando chegava a casa, porque não estava habituada a tê-lo, de todo, na faculdade. Lembro-me de um mês no Técnico em que chegava todos os dias às 8 da manhã, vinda na Margem Sul, onde sempre morei, e de sair de lá à meia-noite. Por isso, ter muito trabalho não era coisa que me assustasse e ali também não me assustou. Tanto o IST como a Link me deram a experiência para ter o tipo de responsabilidades que vim a ter. Em termos de componente técnica, fui muito bem preparada para o papel que assumi em Nova Iorque.
Mas não estava preparada para usar o inglês todos os dias, a nível profissional. Demorava imenso tempo a escrever um email porque tinha muito medo de escrever coisas erradas e tinha um complexo enorme com o meu inglês. A última coisa que queremos quando lidamos com situações tão complicadas é irritar alguém porque a frase não estava bem escrita. O ambiente de trabalho também era muito diferente de cá, mais fechado. Havia uma camada burocrática a que nunca tinha estado exposta e que, para mim e até então, era “gordura”. Mas tive que me adaptar.
E hoje? O seu trabalho, no Financial Crimes Unit é tão emocionante como parece pelo nome?
É, um bocadinho (risos)! Aquilo que faço é ajudar empresas que estejam com algum tipo de problema legal ou regulatório. Nos EUA, há muito a cultura de processar para receber dinheiro. Nós não prestamos serviços legais; geralmente trabalhamos com firmas de advogados. O nosso trabalho é descobrir os factos. Recolhemos dados das empresas que estão a ser processadas e investigadas por parte de um regulador — existem muitos reguladores financeiros nos EUA, para diferentes áreas e que cobrem diferentes produtos financeiros. Através desses dados tentamos perceber como é que o negócio funciona, como está representado nos sistemas informáticos e tentamos depois montar a história: quem está envolvido, quais os montantes em causa, como funcionava o esquema e qual a forma que usaram para encobrir aquilo que realmente se passava. Algo muito interessante naquilo que faço é que, muitas vezes, sabemos só a ponta do iceberg — há sempre alguém que fala, geralmente — e depois o nosso trabalho é perceber o que está para baixo, “submerso”. E muitas vezes descobrimos coisas de que não andamos à procura.
O crime financeiro tem vindo, de facto a aumentar, ou temos essa noção porque há mais gente a ser apanhada?
Acho que é uma mistura de ambos. Penso que tem, de facto, aumentado porque há mais recursos para fazer o crime. Já ninguém assalta bancos com uma arma; há formas muito mais sofisticadas de roubar dinheiro e muita gente a magicar como fazê-lo. Um dos maiores roubos financeiros que houve, até à data, deu-se no Bangladesh, com gente a explorar falhas informáticas e de processo a vários níveis.
“Revimos processos de execução hipotecária para tentarmos perceber a quem deveriam ser atribuídas indemnizações por ter perdido a sua casa indevidamente. Isso teve uma componente pessoal muito grande, para mim. Uma coisa é mexer em números, outra é a vida de pessoas.”
Qual foi o maior seu desafio profissional até agora?
Foi numa altura em que eu já teria uns seis anos de experiência na PwC. Depois da crise de 2008 e 2009, muita gente começou a perder as casas, nos EUA. Mais tarde, uma das entidades reguladoras começou a investigar bancos, nomeadamente se estariam a retirar casas indevidamente — ou se não davam às pessoas a hipótese de refazerem o seu empréstimo para as manterem. Estive a investigar este tipo de casos e isso teve uma componente pessoal muito grande, para mim. Uma coisa é mexermos em números, outra é a vida de pessoas que perderam casas e empregos. Revimos processos de execução hipotecária para tentarmos perceber a quem deveriam ser atribuídas indemnizações por ter perdido a sua casa indevidamente. O meu trabalho era garantir que esse universo de pessoas estava a ser identificado corretamente. Se eu falhasse um empréstimo, era a vida de uma pessoa ou de uma família que estava em jogo, de alguém que não iria reaver dinheiro da casa lhe tinha sido retirada.
Tinha também muita resistência por parte dos funcionários do banco com quem estávamos a trabalhar. Não queriam colaborar connosco porque achavam que os números deles estavam corretos e que eu estava a interferir com o trabalho deles. Houve situações em que chegaram a chamar-me nomes. Chegou a um ponto em tive que queixar-me a um dos sócios [da PwC] que daquela forma não conseguia fazer o meu trabalho. Depois de uma reunião, finalmente um representante do board do banco perguntou-me tudo o que eu precisava e pressionou os seus funcionários e darem-me tudo até ao dia seguinte. Isto foi a um sábado; no domingo já tinha tudo. Fui eu que fiz, depois, a apresentação dos resultados da investigação aos reguladores. Na altura achei que tudo aquilo ia ser demasiado para mim… mas fiz, consegui. Hoje já não me faria diferença estar a interagir com pessoas ao nível daquelas com quem interagi.
A área em que trabalha é predominantemente masculina?
Para além de ser uma área muito masculina, nos Estados Unidos há muitas mulheres que optam por ficar em casa a partir do momento em que são mães. Foi algo que me chocou inicialmente, preocupou-me pensar como é que as pessoas para quem trabalhava me iriam ver como alguém com um futuro na carreira, quando as mulheres deles estavam em casa com os filhos. Nos níveis de carreira mais baixos a disparidade entre homens e mulheres não é tão grande, mas nos níveis hierárquicos mais altos a queda é vertiginosa. Chega a um ponto em que somos 20% de mulheres para 80% de homens, quando antes os valores eram de, aproximadamente, 40% de mulheres. Já tive muitas reuniões em que era a única mulher entre 10 ou 20 pessoas.
“Já estive em reuniões em que nem olhavam para mim ou me respondiam, quando eu dizia alguma coisa. Se um colega homem repetisse exatamente o mesmo, essa pessoa já concordava.”
Mas sente que as mulheres ainda são menosprezadas em postos de chefia?
Depende. Trabalhamos com pessoas de muitas culturas diferentes e eu já senti isso na pele. Já estive em reuniões em que nem olhavam para mim ou me respondiam, quando eu dizia alguma coisa. Se um colega meu, homem, repetisse exatamente o mesmo, essa pessoa já concordava. Mas, na PwC, há um esforço muito grande em apoiar a diversidade. Faço, aliás, parte desse esforço, porque recruto pessoas em algumas universidades e estou envolvida em programas para aumentar a diversidade, não só de género, mas também étnica. Lá existe muita preocupação em recrutar afro-americanos, latino-americanos, nativos americanos. Temos muita gente que vem da Ásia e algumas pessoas da Europa, mas algumas etnias estão sub-representadas e fazemos um esforço consciente para aumentar a sua representação. Gosto muito desta parte de recrutamento. Já existia este programa em outros grupos da PwC e eu consegui que o meu grupo fizesse parte também desse projeto. Já vamos no segundo ano. Tem sido muito interessante e é algo que me dá muito gozo.
É este tipo de desafios que a tem feito ficar nos EUA?
Sim. Adoro o meu trabalho e o facto de ter esta componente humana, em que tentamos ajudar pessoas e fazer com que as coisas resultem em harmonia, é muito desafiante.
O regresso a Portugal está nos seus planos?
Gostava muito, se tivesse aqui uma boa oportunidade, especialmente porque tenho filhas pequenas. Uma delas está a entrar agora na escola e a partir do momento em que isso acontecer vai ser muito difícil mantermos o português como primeira língua.
Do que tem mais saudades, quando pensa no seu país?
Da família, dos amigos… da comida! (risos) Para o café já arranjei solução, por isso já não me preocupa. Já tenho lá uma máquina a sério…
Quantas horas de trabalho pode ter o seu dia?
Evoluiu muito para melhor. Cheguei a trabalhar entre 10 e 16 horas por dia, muitas vezes aos fins de semana. Ainda posso ter dias assim hoje, mas já é muito mais fácil para mim gerir isso, agora.
“Não tenham medo de opinar, de se imporem quando for preciso porque, muitas vezes, só assim é que as pessoas nos respeitam. Isso também vem um pouco da maneira de ser dos portugueses — não gostamos de confrontar.”
Como é a conciliação de carreira e família? Mais difícil?
É difícil para quem não tem apoio familiar, como nós, mas também o será para alguém que não tenha essa rede em Lisboa. Não é o facto de estarmos em Nova Iorque que a torna mais difícil. Lá tenho a facilidade de não precisar de carro para nada. Levo as minhas filhas à escola a pé, vou para o trabalho a pé. Aqui, provavelmente teria de andar de automóvel.
O que é preciso para se ser bom naquilo que faz?
Ser muito assertivo, ou as pessoas não nos levam a sério. É preciso ser muito curioso e fazer muitas perguntas porque se aceitarmos o que nos dizem, logo à primeira, não chegamos ao fundo da questão. É preciso pôr tudo em causa.
Que conselho daria a uma jovem profissional que queira fazer carreira nesta área?
É um desafio muito grande, mas se é uma pessoa que precisa de ter todos os neurónios a funcionar para se sentir realizada, é uma área perfeita. O desafio de se ser minoria só o torna mais interessante. Nas universidades em que recruto tenho visto cada vez mais mulheres a estudar engenharias. Não tenham medo de opinar, de se imporem quando for preciso porque, muitas vezes, só assim é que as pessoas nos respeitam. Isso também vem um pouco da maneira de ser dos portugueses — não gostamos de confrontar, mas isso não resulta. Há coisas que vemos como rudes, como recusarmos fazer qualquer coisa, mesmo que não faça sentido. Hoje já tenho à vontade suficiente para responder: “não vou fazer assim porque não tem lógica, mas em alternativa faço desta maneira…” Foi complicado consegui-lo, especialmente por causa da nossa cultura, mas é algo que se ganha.