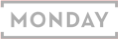Assumiu a Direção de Recursos Humanos da Caixa Económica Montepio Geral no final de 2015, numa altura em que se prepara um processo de transformação na instituição fundada há 172 anos. Transformação e mudança são palavras que melindram a maioria das pessoas mas que atraem Catarina Horta, que já trabalhou em áreas tão distintas como a construção civil e a indústria farmacêutica. Participou em fusões e na “multinacionalização” de uma empresa portuguesa e garante que foram momentos felizes da sua carreira.
Acumula a direção de Recursos Humanos de uma grande instituição, com aulas na Nova-Católica, a família e ainda tem tempo para escrever livros. No final de 2014 publicou A Arte da Guerra na Gestão de Talentos, e prepara outro livro onde quer partilhar o que aprendeu ao longo de mais de duas décadas de carreira. Garante que será uma espécie de manual infalível para transição de carreira, com técnicas que já ajudaram muitas pessoas. Para já, a sua missão é ajudar a Caixa Económica Montepio Geral a preparar-se para o futuro.
Tem uma longa carreira ligada aos recursos humanos, mas o Montepio marca a sua estreia na banca. O que é que a atraiu?
É interessante para quem trabalha há 20 anos em recursos humanos estar presente nesta fase de transformação que a banca atravessa. Sou uma gestora de mudanças e esse foi o principal mote. Não se trata de integrar uma função de continuidade, mas sim de fazer uma disrupção. E achei que fazia sentido na minha vida.
Ao fim de 20 anos de carreira acabamos por perceber onde é que funcionamos melhor, onde é que somos mais felizes…
Os momentos mais interessantes da minha carreira foram os de transformação. Nas farmacêuticas fiz quatro fusões e aquisições e foram processos muito interessantes, de grande aprendizagem, de grande gozo pessoal. Na Randstad fiz também, de alguma maneira, a transformação de uma empresa nacional (a Select Vedior) para uma empresa verdadeiramente multinacional. A Caixa Económica Montepio está de acordo com o meu perfil de gestora. Ao fim de 20 anos de carreira acabamos por perceber onde é que funcionamos melhor, onde é que somos mais felizes… E eu sou mais feliz em projetos de transformação.
Qual a missão que tem agora no Montepio?
Redimensionar a estrutura do Montepio para as necessidades do negócio atual e profissionalizar a gestão do talento. As pessoas não são apenas consideradas como profissionais mas também como talentos ao serviço das necessidades futuras da instituição.
Temos que conhecer melhor as nossas quatro mil pessoas. Cada uma tem que ter a sua medição de talento. Hoje posso estar muito infeliz numa função de contabilidade e se me puserem numa função de comunicação fico muito melhor. Temos de atualizar este conhecimento.
O banco cresceu muito, como quase todos os bancos, e nos períodos de crescimento olha-se menos para isto. Os períodos de crise são um bom momento para percebermos onde é que temos mais necessidades e se temos pessoas, e onde é que não temos necessidades e podemos requalificar as pessoas. É preciso fazer esta gestão.
Como o vão fazer?
As pessoas sabem que esta administração e esta direção de recursos humanos vão fazer o que tem de ser feito para nos prepararmos para os desafios do momento. Há três grandes pontos em que vamos trabalhar: acabámos de lançar o Programa Reforma Ativa, em que vamos convidar à reforma pessoas que já estão muito próximas dela, preparando-as para o período de transição entre a vida de trabalho e a aposentação.
Todos nos preocupamos muito com os jovens que entram no mercado de trabalho, mas preocupamo-nos relativamente menos com a passagem para a reforma – que me parece absolutamente fundamental. Não se pode esperar que uma pessoa que trabalhe há 40 anos passe para a reforma de repente. Vamos usar os nossos recursos (a Fundação Montepio, a Associação de Reformados, o Gabinete de Responsabilidade Social e os Serviços Sociais) para promover um conjunto de iniciativas onde as pessoas se podem integrar, se quiserem.
Vamos também lançar uma academia de formação interna. Temos muita informação internamente que não está suficientemente disseminada e é isso que pretendemos com a Academia. Queremos trabalhar a formação desde o nível estratégico até às soft skills.
Finalmente, vamos rever o sistema de mérito, que tem uma vertente de medição de objetivos e avaliação, e uma função de aconselhamento, em que não é só importante o que eu atinjo, mas como eu atinjo. E aqui também uma vez mais virado para os valores do mutualismo. Nós sabemos que há momentos difíceis na vida das pessoas, na vida das empresas e temos que as ajudar a deixar-se ajudar a evoluir.
É importante perceber onde se ganha dinheiro. Se não ajudarmos o negócio somos meramente decorativos.
É formada em Psicologia. Como se apaixonou pelos recursos humanos?
Tinha o sonho de ser psicóloga clínica. Mas depois de fazer um Erasmus em Inglaterra – há 24 anos, quando ainda ninguém sabia o que era o Erasmus -, descobri uma outra realidade. O Erasmus abriu-me mundo. Recomendo a toda a gente que possa ter experiência global que o faça.

Catarina gosta de pôr as ideias em prática e ver resultados.
Qual foi a grande descoberta que fez?
Como os professores não eram apenas psicólogos, mas também consultores, percebi que havia intervenção ao nível individual e ao nível da pessoa na área dos recursos humanos. Ou seja, nós não gerimos só grandes números, não gerimos só grandes estratégias, fazemos isso com o elemento pessoa envolvido. E as pessoas são diferentes. E pensei “É isto que eu quero fazer! Não é estar só no consultório, é atuar e ver os resultados”. E mudei de Psicologia Clínica para Psicologia Organizacional, e fiz bem.
Quais são as competências essenciais para um bom diretor de recursos humanos?
A primeira é conhecer o negócio. Já trabalhei em imensos tipos de negócio e acho que é importante perceber onde é que se ganha dinheiro, como é que se ganha dinheiro, como é que aquele organismo vivo que é a empresa funciona. Porque se não tivermos a linguagem do negócio e se não ajudarmos o negócio somos meramente decorativos.
Tem de haver muita inteligência emocional. Não somos só representantes do acionista, do dono, mas sim mediadores entre as necessidades das pessoas e as necessidades do negócio, do acionista, do dono. Esta leitura é um equilíbrio difícil, mas que acho que é importante e que devemos estar sempre a procurá-lo. Finalmente, é preciso resiliência. Há coisas que demoram tempo. Nós somos humanos, demoramos tempo a habituarmo-nos às coisas.
O que mais gosta na sua função?
Gosto de ver as pessoas desenvolverem-se. Lembro-me de chefes de vendas que hoje são diretores-gerais ibéricos, estagiárias que hoje são diretoras de recursos humanos a concorrerem internacionalmente. O que me dá mesmo prazer é ‘ser o olheiro de futebol’: gosto desta pessoa, aposto nela e vou segui-la.
Só dormia cinco horas por noite. Foi a única altura da vida em que emagreci a comer donuts.
Quais os grandes momentos da sua carreira?
Entre desafios e resultados, os momentos mais interessantes foram dois. O primeiro foi o processo de fusão entre a Schering e a Organon, em que tive de gerir a equipa depois da saída do diretor-geral. Não é comum ser alguém dos Recursos Humanos a fazer isso, mas durante quatro meses dei continuidade ao negócio para entregar a empresa ao novo diretor-geral, que só conheci na véspera. Naqueles quatro meses redefinimos a estrutura da empresa em Portugal e fizemos a fusão dos negócios das duas empresas. E ao fim de seis meses começámos a crescer não só em resultados financeiros como também na apreciação que os médicos tinham dos delegados. Portanto, mudámos e mudámos para melhor.
Foi certamente um período de grande exigência de tempo.
Só dormia cinco horas por noite. Foi a única altura da vida em que emagreci a comer donuts. Mas também não é possível manter isto muito tempo. O meu ex-marido ajudou imenso com as crianças, porque naqueles meses eu não existia. E nesse sentido as carreiras das mulheres têm esta dificuldade, é preciso que em momentos de pique sejamos capazes de responder. Naquela altura eu não tinha tempo para nada. Lembro-me de estar em aeroportos e fazer compras online, aproveitava pausas para marcar médicos aqui e ali, mas isso não é estar, é organizar. Tinha do outro lado um marido e a família que me apoiavam. Mas nem sempre isto existe. Eu sou absolutamente a favor das quotas por isto, porque eu tinha esta estrutura. Tinha mãe, tinha marido, mas muita gente não tem. Eu pude fazer isto.
As quotas podem dar oportunidades às mulheres, mas não lhes dão necessariamente as condições para as aceitarem. E por isso ela pode ter de dizer: eu não posso.
É verdade, mas têm mais capacidade para dizer: eu vou trabalhar à noite em casa. Naquele momento eu pude dizer que “contem comigo!”. Mas foram só oito meses.
A decisão mais difícil foi não ter ido para carreira internacional. Tive três oportunidades mas por razões pessoais não aceitei.
Depois houve um outro momento também na Schering em que fui chamada a um projeto, feito a nível mundial com a McKinsey. Era preciso reduzir o tempo que os medicamentos demoravam para chegar ao mercado e convidaram pessoas de negócio e meia dúzia de pessoas dos Recursos Humanos para o projeto. Lembro-me de ter olhado para um dossier gigante e ter pensado: “Eu não percebo nada disto, escolheram-me mal!”. Mas na verdade foi um projeto de consultoria interna, com o qual conseguimos reduzir o tempo para metade em apenas seis meses. Foi das coisas que mais gostei de fazer.
A área farmacêutica marcou muito a sua carreira?
Representa metade da minha carreira. Foi num período em que a capacidade de desenvolvimento e aprendizagem também já é mais forte – não estamos nos primeiros anos de carreira, mas numa fase já de concretização e de devolução. Mas ao fim de 11 anos decidi que não queria ficar na área farmacêutica.
Porquê?
Acho que sou uma generalista – já trabalhei em construção civil, em telecomunicações, na área farmacêutica, nos serviços – e naquela altura pensei: “Se eu ficar na área farmacêutica mais anos, não saio daqui”. E eu gosto de olhar para negócios.
O que aprendeu nestes últimos anos?
Ganhei músculo na transformação de uma empresa de cariz mais nacional para uma empresa multinacional, que foi o que aconteceu no fenómeno da Randstad. E foi interessante, porque introduzi sistemas meritocráticos, avaliação de talento, instrumentos de recursos humanos onde não havia esse hábito. Criei, desenhei e depois a informática transformou num sistema online – um sistema de avaliação de desempenho da Randstad muito baseado em objetivos. No princípio foi uma evangelização, porque as pessoas não estavam habituadas, mas ao fim de algum tempo já o pediam, criticavam e faziam propostas de melhoria. Para mim isso é integração.
Qual a decisão mais difícil que tomou na sua carreira?
Não ir para a carreira internacional. Tive três oportunidades. Talvez a que me tenha custado mais foi aos 31 anos quando me propuseram ir para o México fazer a gestão de Recursos Humanos da América Latina. Por razões pessoais não era o momento.
Nunca me senti discriminada por ser mulher, mas sim pela idade. Acho que se passa de novo a velho em 10 anos.
A direção de recursos humanos é uma das áreas em que as mulheres estão melhor representadas. Porque é que acha que isto acontece?
Porque tem uma necessidade de inteligência emocional e resiliência elevada. São características que se encontram mais em mulheres. Em que não é preciso que a mulher se masculinize para exercer essa função.
Acha que as mulheres ainda têm que se masculinizar para preencher as outras funções?
Algumas sim. Na construção civil isso era muito claro: as mulheres diretoras de obra dificilmente apareceriam de unhas pintadas por uma questão de integração. E acho que há funções onde isso ainda acontece. Comecei a fazer parte de comités de direção com 26 ou 27 anos, e na altura só havia uma ou duas mulheres. Só mais recentemente é que comecei a partilhar esses lugares com mais mulheres.
Sentiu-se alguma vez discriminada nas reuniões pelo facto de ser mulher?
Não. Senti-me discriminada pela idade. É um tema de que se fala relativamente pouco, mas acho que se passa de novo a velho em 10 anos. Ou seja, até aos 30 é-se demasiado novo. Quando trabalhei na construção civil era chefe de serviço nos Recursos Humanos e nunca disse que tinha menos de 26 anos. Tínhamos duas mil pessoas e eu sempre calada em relação à idade. Depois houve 10 anos em que tive a idade que se espera ter e hoje as pessoas acham “Já tem 40!”. É como se só tivéssemos 10 anos de maturidade profissional, quando ainda vamos ter mais 20 anos de trabalho.
Tendo ocupado direções de recursos humanos em várias empresas, na sua opinião quais são as principais causas que ainda hoje impedem que haja mais mulheres em cargos de decisão?
As pessoas tendem a escolher, dentro do seu círculo. Até determinado nível a competência é importante, a partir de determinado nível é importante também a confiança e a lealdade política dentro da organização. E para isso tenho de ter um mínimo de envolvimento com as pessoas. Se o meu círculo é de homens, tendo a escolher mais homens.
Parece-me que os millennials dão mais valor do que a minha geração dava à vida além do trabalho. Isso vai exigir mais das organizações.
Como se contorna isso?
Defendo claramente o sistema de quotas. Acho que há duas maneiras: há um caminho mais lento – e nós acabámos de aderir ao fórum para a igualdade de género, em que vamos tornar visíveis todos os nossos indicadores de género. Ou seja, cada promoção que fazemos vamos ter que classificar se está de acordo com a igualdade ou não está. Temos de acelerar o processo e isso só se consegue com as quotas.
Em nenhum momento, achou que muitas mulheres também não se chegam à frente?
Isso acontece menos. E acontece com mulheres, mas também com homens. Nos millennials isso acontece muito mais. O meu filho mais velho diz que não quer a vida que eu tenho, não quer ir dar aulas a um sábado de manhã nem estar a trabalhar noite fora. É uma opção, mas sou feliz assim. Eles dão mais valor do que minha geração dava à vida além do trabalho.
Que transformações essa nova atitude implicará nas organizações?
Penso que vai exigir mais das organizações. Terão de equacionar “o que é que eu posso e não posso exigir? Como é que posso atrair um talento interessante mas que não está disponível a trabalhar 15 horas por dia sempre – que pode trabalhar muito durante um projeto, mas depois quer voltar à sua vida?”. Isso vai conseguir mais do que o sindicalismo conseguiu nos últimos anos. É um bocadinho como nas mulheres: mais do que queimar soutiens na praça pública, é “o que é que eu vou, de facto, fazer?”. E como esta perspetiva é mais geracional e menos de género, acho que vai ser interessante.