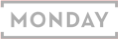Licenciou-se em Engenharia Agronómica mas foi em Economia Aplicada que se tornou especialista. Com 25 anos de carreira ao serviço do Banco Mundial, Manuela Ferro é a vice-presidente de Políticas de Operações e Serviços de País daquela instituição internacional sediada em Washington, onde lhe compete a função de supervisionar as políticas corporativas em matéria de financiamento e serviços analíticos.
Formou-se na Universidade Técnica de Lisboa, onde também deu aulas como professora assistente e, durante esse período, trabalhou em estudos sobre o impacto da adesão no nosso país à União Europeia. Determinada e resiliente, decidiu candidatar-se à prestigiada bolsa de estudos Fulbright para o doutoramento em Economia Aplicada na Universidade de Stanford, na Califórnia. Por cá, tinham-lhe dito para não ter muitas esperanças, porque era raro concederem-na a portugueses, mas contra as estatísticas e o negativismo reinante, acabou mesmo por consegui-la. Em Stanford encontrou um ambiente académico que a fascinou, uma comunidade internacional de estudantes onde fez bons amigos que ainda hoje mantém, mas também o cheiro dos eucaliptos e pinheiros que lhe fazia lembrar Portugal. Foi lá também que conheceu o marido, um doutorando de origem belga que é hoje professor universitário numa das melhores universidades norte-americanas.
Quando terminou o doutoramento, em 1994, candidatou-se ao Banco Mundial, para onde entrou com funções técnicas, vencendo mais uma vez as estatísticas ao ser uma das 35 escolhidas entre mais de 16 mil candidatos. Trabalhadora e exigente, ao longo dos últimos 25 anos construiu uma sólida carreira na instituição, onde dirigiu as áreas de Redução da Pobreza e Gestão Económica no Médio Oriente e Norte da África, bem como de Estratégia e Operações do Banco Mundial para a América Latina e as Caraíbas. Liderou o lançamento das novas políticas sobre garantias, bem como a introdução das Operações de Política de Desenvolvimento de Catástrofes.
A viver em Washington há vários anos, confessa que um regresso à Europa está nos seus planos, mas os desafios que o Banco Mundial lhe coloca continuam a apaixoná-la e a dar-lhe um sentido de missão, que a mantém realizada.
Como é que uma engenheira agrónoma se apaixona pela Economia Aplicada?
Quando fiz o curso de Agronomia, fiz a especialidade de Economia e Sociologia Rural, por isso o interesse já vem de longe, apesar de estar mais ligado à microeconomia e economia rural. Estávamos na época da adesão à União Europeia. Antes de acabar o curso já fazia alguns trabalhos de investigação e análise do impacto da adesão à UE na agricultura portuguesa e aquilo de que se poderia tirar partido. Tinha algumas bases em Economia, mas com o trabalho percebi que não eram suficientes, por isso pensei em mudar de direção e aprofundar mais os meus conhecimentos. Nessa altura era muito difícil fazer um mestrado ou doutoramento em Economia vinda de outro curso. Hoje é muito mais fácil e as coisas melhoraram muito. Nos Estados Unidos, os doutoramentos têm uma parte curricular; têm-se aulas durante alguns anos até chegar à tese. Por isso, candidatei-me à Bolsa Fulbright, escolhi a Universidade de Stanford e, no fim da tese, a Fundação Luso-Americana também ajudou.
Gostou de estudar em Stanford? Sente que aproveitou muito desse percurso académico?
Cresci imenso porque saí de Portugal, por isso há também essa parte da aprendizagem. É uma universidade extraordinária porque tem uma grande componente de engenharia, a componente científica é muito forte e é uma universidade muito dinâmica e internacional, com muitos estudantes asiáticos. Mas ao mesmo tempo, tem um bocadinho de Portugal – cheira a eucaliptos e pinheiros em todo o lado, tem umas azinheiras lá pelo meio… Nas universidades americanas, desde que se paguem as propinas ou se tenha uma bolsa de estudo, podemos fazer todas as cadeiras que quisermos, em todos os cursos. Por isso, tenho cadeiras feitas em áreas como Estatística, Engenharia, e até estudei russo e fiz equitação!
Foi esse o seu primeiro grande impacto intercultural?
Sim… e não. Na minha família somos seis irmãos e sempre viajámos muito desde miúdos, eu fiz um inter-rail, etc… Noto em muitos portugueses que encontrei que são muito adaptáveis, muito abertos. Estamos habituados já a muitas centenas de anos de mistura de culturas e isso está em nós. Portanto, sentimo-nos em casa em muito sítio e muito rapidamente.
“[Como professora] aprendi sobretudo a criar interesse nas pessoas e a comunicar. Ensina-se pouco a comunicar oralmente, outros países investem muito mais nisso.”
De que forma esse percurso académico a preparou para aquilo que faz hoje?
Eu aprendi a aprender. Hoje em dia, e à velocidade a que as coisas mudam, o que é mais necessário é justamente isso, além de ter a curiosidade para aprender. Todos temos percursos diferentes, mudamos de orientação e tudo isso acumula. Veem-se ligações entre disciplinas nas formas de aprender, ligações essas que são muito interessantes e que nos servem para a vida toda.
O seu percurso profissional, a partir daí, foi feito nos Estados Unidos. Sentiu que, por lá, estava no seu elemento?
Não foi bem isso. O meu plano sempre foi voltar para Portugal – ainda é. Mas casei-me com um belga que é professor na universidade de Johns Hopkins, que também fez o doutoramento em Stanford. Procurámos muitas coisas em vários sítios, onde havia oportunidades interessantes para ambos, e Washington foi a cidade onde encontrámos o equilíbrio. Naquela altura era mais difícil para ele integrar-se; havia menos estrangeiros em Portugal e menos abertura, e as oportunidades eram muito maiores nos Estados Unidos, para ele principalmente.
O seu percurso também passou pela docência. O que aprendeu enquanto professora?
Aprendi muito, sobretudo a criar interesse nas pessoas e a comunicar. Ensina-se pouco a comunicar oralmente, outros países investem muito mais nisso. E aprendi que me interessa desenvolver pessoas e que o que deixamos não é apenas a nossa investigação ou trabalho; também deixamos um pouco de nós nos outros.
Como chegou ao Banco Mundial?
Candidatei-me ao Young Professionals Program, do Banco Mundial. Todos os anos se candidatam cerca de 16 mil pessoas e são contratadas cerca de 35. Candidatei-me inocentemente, a esse programa mas também a outras instituições como a OCDE, o Banco Inter-Americano de Desenvolvimento, ao Observatório Internacional, a algumas universidades – na altura, ainda estava um pouco indecisa se continuava ou não na carreira universitária.
A agricultura já não fazia parte nem do doutoramento, nem do meu trabalho. Quando mudei de área, percebi que o que me interessava verdadeiramente era a utilização dos recursos e geração de riqueza, e isso é economia. Passei um pouco mais para a Macroeconomia e a minha carreira técnica no Banco Mundial sempre foi nessa área. Trabalhei com vários países com Angola, Moçambique, Paquistão, Sri Lanka, Índia, México, Honduras, enquanto country economist. Essa foi a carreira técnica, depois é que passei mais à parte de gestão.
E tinha que viajar muito para esses países?
Muito! Passava muito tempo fora. Digo sempre que estou baseada em Washington, mas se perguntar ao meu marido ele vai dizer-lhe que estive baseada em todos os outros países. (risos) É uma experiência profissional, mas também cultural e pessoal humanizante, de certa forma. Os países são como são devido a uma série de condicionantes que têm muito a ver com a sua cultura, religião, com a localização geográfica ou acidentes na sua história, por vezes. Aprende-se imenso, em todos os pontos de vista. Ser curiosa ajuda.
“Quando entrei em funções, disseram-me que dentro de seis meses teria que ter aquele estudo completo. Claro que ainda não sabia que esse tipo de estudos se fazem normalmente em ano e meio, mas como era nova disse que sim a tudo. Fartei-me de trabalhar e acabei por fazê-lo mesmo em seis meses.”
Quando entrou foi trabalhar para a área de operações?
Sim. Pensava que ia para a investigação, que era aquilo que estava a fazer em Stanford, mas o programa Young Professionals coloca os jovens profissionais numa área e numa região em que nunca trabalharam, para ver se se orientam. Fui colocada a trabalhar na área das taxas de câmbio e impacto da desvalorização na economia os países da América Central, com o México e as Honduras, onde nunca tinha estado. Quando entrei em funções, em setembro de 1994, mostraram-me qual a minha área de trabalho e disseram-me que dentro de seis meses teria que ter aquele estudo completo. Claro que, nessa altura, eu ainda não sabia que esse tipo de estudos se fazem normalmente em ano e meio, mas como era nova disse que sim a tudo. Fartei-me de trabalhar e acabei por fazê-lo mesmo em seis meses.
Qual o projeto mais desafiante em que já trabalhou?
Há muitos. Mas talvez em Moçambique, porque na altura em que trabalhei com o país, entre 1995 e 1999, as dificuldades eram enormes e a capacidade técnica do país era baixa, mas a vontade era enorme. A equipa que trabalhou com Moçambique era muito jovem mas tinha muita determinação, também porque via como o Governo, as autoridades e toda a comunidade estavam empenhados do desenvolvimento do país. É uma oportunidade excelente de pôr em prática aquilo que se aprendeu e ter a oportunidade de fazer isso em tempo real, estar no sítio certo à hora certa.

Manuela Ferro admite que está numa fase em que lhe apetece mudar, inclusive de continente.
Como viveu a sua primeira promoção?
A minha primeira promoção foi como gestora na área de economia dos países, há uns 11 ou 12 anos. Talvez tenha sido a mudança mais importante em termos de substância do trabalho, porque deixa de ser completamente técnico para a ser mais pessoal: inspirar as pessoas, perceber que talentos é que podemos desenvolver para nos seguirem, estarem interessadas e motivadas. Tem-se um papel mais explicitamente ligado ao desenvolvimentos da carreira dos outros e não só da nossa. Isso sempre me interessou e sempre fiz um pouco disso, por isso me foram contactar para esta posição. Cresci muito nela, até pelas pessoas que agora se veem crescer, algumas são elas próprias vice-presidentes.
“Na vice-presidência a grande diferença é a necessidade de inspirar sem contacto pessoal. Gerem-se equipas muito maiores e, às vezes, tem que se moderar sem o toque pessoal. Quando tenho tempo para respirar, tento passar pelos escritórios das pessoas.”
E, mais recentemente, como viveu a sua nomeação para o cargo de vice-presidente?
A grande diferença é a necessidade de inspirar sem contacto pessoal. Gerem-se equipas muito maiores e, às vezes, tem que se moderar sem o toque pessoal, que ainda assim utilizo em situações chave. Quando tenho tempo para respirar, tento passar pelos escritórios das pessoas e falar com elas. Mas a dimensão é muito diferente, tem que se trabalhar noutras áreas, que são mais pontos de alavanca. No resto é muito parecido e uma continuidade.
Em que consistem as suas missões atuais enquanto vice-presidente para a área de operações e serviços de país?
O grupo Banco Mundial tem 3 braços principais, um deles é o Banco Mundial propriamente dito, que empresta recursos financeiros e dá apoio técnico a países de rendimento médio e mais pobres, no qual damos donativos ou créditos subsidiados. Esta parte de operações com todos estes países, é gerida de uma forma central por uma CEO, com quem trabalho diretamente. Giro a parte de todas as regiões e de todas as áreas técnicas (economia, saúde, educação, infraestrutura, ambiente climático, etc…). Depois fazemos a política operacional, ou seja, o menu de instrumentos que podemos utilizar e oferecemos aos países – instrumentos analíticos, de assistência técnico ou financeiros. Todos eles são desenvolvidos por nós.
O que é preciso para se ser um bom líder na sua área?
É preciso ter uma visão e direção; ouvir os outros, porque muitas ideias boas não partem de nós – e é preciso reconhecê-los, não pode ser uma apropriação das ideias dos outros sem que o devido valor lhes seja dado. É preciso saber estabelecer relações de confiança, entre o staff e os países com que trabalhamos – são exatamente os mesmos princípios. E as pessoas têm que perceber que temos o interesse deles em mãos e que trabalhamos para eles.
O olhar feminino na liderança desta área faz a diferença na maneira de atuar?
Se calhar poderia dizer-lhe que sim, mas na verdade não lhe sei dizer. (risos) Acho que onde se vê diferença é no facto de as mulheres notarem mais que há pessoas que ficam de lado e que não são só profissionais femininas, mas também pessoas de outras religiões ou etnicidades. E notam mais porque já passaram por isso. Mas no que toca à forma como exercem as suas funções, não noto que existam grandes diferentes.
“A vantagem que temos no Banco é que, quando mudamos de região, é como se mudássemos de trabalho. Mas estou numa fase em que não me importava nada de mudar de carreira e fazer uma coisa completamente diferente.”
Durante todos anos no Banco Mundial, o que foi decisivo para querer ficar? Nunca pensou em procurar um novo desafio?
Penso muitas vezes. Há dois anos estive quase para me reformar do Banco e fazer outra coisa. Mas depois pensei que para começar a fazer outra coisa não se pode esperar muito. A vantagem que temos no Banco é que, quando mudamos de região, é como se mudássemos de trabalho. Mas estou numa fase em que não me importava nada de mudar de carreira e fazer uma coisa completamente diferente. Até pela curiosidade que sempre tive e por algum desejo de voltar à Europa. Não tenciono passar os meus últimos dias nos Estados Unidos.
Washington é uma cidade tão impessoal e de burocratas, como se diz que é? O que há de bom na cidade para uma executiva portuguesa?
Em Washington existe aquilo a que chamo as “necessidades básicas” e que são o merceeiro português, o vinho português… Temos um embaixador muito dinâmico, fantástico, e uma comunidade de estudantes portugueses, a PAPS (Portuguese American Post-graduate Society), que têm capítulos em várias cidades – faço parte do capítulo de Washington. É uma cidade internacional; não vivo exclusivamente na comunidade portuguesa, mas mantenho os vínculos com ela e com Portugal. Tenho muitos amigos lá. Apesar de virem de países diferentes, têm muito a ver com a minha maneira de ser. Vou ter sempre uma base lá, mas sinto-me europeia. Por isso penso aqui, na Europa, também é a minha base e que gostaria de contribuir mais uma vez para ela.
O que absorveu de melhor da cultura organizacional norte-americana?
A meritocracia. Isso tem a ver com a origem do país. Vejo que nos Estados Unidos a mobilidade social e profissional é talvez um pouco maior do que na Europa, em geral.
A cultura institucional do Banco Mundial, em si, é muito homogénea. Esta organização é muito grande e está espalhada pelo mundo inteiro – metade do nosso staff, mais de 7 mil pessoas, estão deslocadas em outros países; em Washington estão outros 7 mil. A cultura da instituição tem valores americanos e europeus, diria: horas longas de trabalho e o reconhecimento de que temos responsabilidades a nível global.
O que continua a apaixoná-la naquilo que faz ao fim de 24 anos?
O meu trabalho é muito interessante e a missão no Banco Mundial é muito relevante. Por isso realiza as pessoas. Gosto não só do trabalho, mas acho que é uma instituição que, não tendo sempre feito tudo bem, aprende. E isso tem muito a ver comigo.
“Às vezes ouço dizer ‘tiveste oportunidade’. As oportunidades fazem-se, não caem do céu.”
Está também presente no Conselho da Diáspora Portuguesa. Como exerce esta participação e o que lhe tem trazido esta experiência?
É uma experiência muito interessante porque parte da ideia de utilizar a comunidade portuguesa de uma forma que nos torna mais conscientes de que todos somos embaixadores do país. E estão a fazer um esforço enorme para atrair e identificar mais mulheres para o Conselho da Diáspora. Este é um contributo que penso que devo dar – às vezes venho a Portugal de propósito para isso. Tenho a responsabilidade da área de compras públicas dos países e tenho feito seminários em Lisboa, com empresas portuguesas, para que saibam quais as oportunidades que estão ao seu dispôr. Não é dar nenhum favoritismo, mas antes dar informação às empresas para que percebam o que podem fazer para se candidatarem a concursos de prestação de serviços e ganharem. E essa área tem melhorado imenso. De forma que há interesse do ponto de vista de Portugal, mas também uma troca de ideias entre os membros do Conselho da Diáspora, membros do Governo e da comunidade empresarial que, de certa forma, ajudam Portugal a internacionalizar-se. Sempre fomos um país muito aberto e penso que devemos continuar a fazê-lo. Sempre achei que as empresas portuguesas deveriam diversificar a sua internacionalização, não apenas à Europa e África, mas também à América Latina e Ásia. Essa diversificação deixa-nos menos dependentes de determinadas evoluções e variações económicas.
Que conselho daria a uma jovem profissional que queira fazer uma carreira internacional em Economia?
Número um: boas notas na faculdade (risos). Depois, ter curiosidade, não ter receio de se candidatar. Quando me candidatei à Bolsa Fulbright disseram-me aqui em Portugal ‘Não vai entrar, muito raramente entram portugueses’. E eu pensei, ‘que conselho tão pouco simpático!’, mas candidatei-me à mesma e acabei por entrar. Portanto, não desanimar. Prepare-se para coisas que correm bem e que correm mal, porque se aprende com todas, principalmente com as que correm mal. Perseverança e trabalho, essencialmente. Às vezes ouço dizer ‘tiveste oportunidade’. As oportunidades fazem-se, não caem do céu. Mas hoje noto muita auto-confiança nos jovens portugueses. Fazem muito bom trabalho, vêm muito bem formados e são corajosos.